Filósofa mexicana: imagens de violência se tornaram objetos de consumo
No livro "Capitalismo gore", Sayak Valencia faz crítica contundente à espetacularização de imagens de violência pela mídia
compartilhe
Siga no
Maria Fernanda Vomero
Especial para o EM
Eram 18h de uma tarde qualquer, e Sayak Valencia (1980) dirigia pelo boulevard Insurgentes, em Tijuana, cidade na fronteira norte do México onde nasceu. Sua irmã mais nova, então uma pós-adolescente, a acompanhava. Na frente de seu carro, havia uma picape preta último modelo e sem placa, carregada de sacos pretos, que pareciam ser de lixo.
De repente, a picape escorregou em uma vala e um dos sacos despencou, despejando seu conteúdo no asfalto. Tratava-se do torso de um homem esquartejado, ainda com a cabeça. Sem poder parar de dirigir, porque era em um trecho de alta velocidade, Sayak perguntou, atônita: “O que é isso?” A irmã, aparentemente serena, respondeu: “Isto é Tijuana”.
Filósofa e professora do Colegio de la Frontera Norte, centro de ensino e pesquisa com sede naquela cidade, Sayak narra esse episódio para situar o evento disparador das pesquisas que resultaram no livro “Capitalismo Gore”, publicado originalmente em 2010 e trazido recentemente ao Brasil pela Sobinfluência edições, com tradução de Igor Peres.
Leia Mais
Com linguagem objetiva e embasamento crítico, a autora examina a faceta mais brutal do capitalismo, na qual o corpo se torna uma mercadoria absoluta e rentável e a violência, um meio de saciar as demandas tanto do hiperconsumismo quanto do entretenimento global. Define as práticas de morte associadas à produção de capital como “gore”, um termo cinematográfico que se refere ao conteúdo visual saturado de violência explícita e extrema, com sangue, mutilações e outras cenas chocantes.
A análise da atuação do narcotráfico no México, especialmente na zona de fronteira com os Estados Unidos, foi o ponto de partida para as reflexões de Sayak. Segundo ela, a morte se tornou um negócio lucrativo, e o crime organizado disputa espaço com o Estado neoliberal no controle da violência, apoiando-se em lógicas colonialistas e machistas. Na base dessas dinâmicas, há a intensa atuação dos “sujeitos endríagos”, categoria cunhada pela filósofa para se referir às masculinidades forjadas pela frustração diante das demandas hiperconsumistas e pelas expressões de virilidade em busca de validação social.
“O livro já tem 15 anos, mas não significa que tenha deixado de ser atual. Às vezes, devemos voltar às bases e à memória histórica e política de nossas lutas a fim de constatar que nossas revoluções foram e continuam a ser possíveis”, diz a autora.
Sayak também escreve ficção. “Adrift’s book”, uma mescla de thriller, ensaio e poesia que traz um detetive trans na investigação de um crime, foi publicado em 2012 e está sendo reeditado pela mexicana U-Tópicas ediciones. A seguir, a entrevista que a filósofa concedeu ao Pensar.
Por que você decidiu investigar os vínculos entre capitalismo e violência?
Em uma fronteira como a de Tijuana, que é também uma grande porta de entrada e saída de mercadorias legais e ilegais, os corpos estão todo o tempo sob fogo, ameaçados pela violência do capitalismo: pelas “maquilas” [manufaturas têxteis], pelo trabalho precário, por serem indocumentados, ou por serem cidadãos que estão deste lado do muro e não do outro. Ocorre não apenas uma espécie de violência sistemática sobre esses corpos fronteiriços, mas também o desprezo por seus saberes. O narcotráfico é parte de uma ecologia política, inclusive emocional, na fronteira. Me incomodavam muito as leituras simplistas que existiam sobre o narcotráfico no México, [a narrativa de] os bons contra os maus, tudo muito binário e maniqueísta. O narco se tornou uma cultura já faz muitos anos. É uma forma tanto de produção econômica e de acumulação como também de produção de emoções e afetividades.
Como você chegou ao termo “gore”?
Tenho uma irmã, de quem falo no final do livro, que sempre gostou muito do cinema “gore” – com seus efeitos, a teatralidade, a má qualidade e tudo o mais. Mesmo sem apreciar esse tipo de filme, eu assistia com ela. Quando passaram a ocorrer cada vez mais casos de pessoas sequestradas, torturadas e desmembradas [no México], casos esses espetacularizados pelos meios de comunicação, me dei conta de que essa violência dos filmes B que víamos nas telas estava acontecendo na realidade. O governo mexicano e os criminosos sempre exerceram a violência. A diferença, naquele momento, era a espetacularização dos atos e a transformação disso em um nicho de mercado. Já não se tratava apenas de transação econômica via tráfico de drogas, mas também do desdobramento de poder e de masculinidade que existia naquela semiótica da violência. Encontrei no “gore”, como gênero cinematográfico, uma palavra efetiva para falar de toda essa espetacularização do truculento, do dilaceramento de pessoas, do sangue por todos os lados. É uma violência crua, com um poder de intimidação eficaz porque acontece com o corpo, algo que todos temos. É uma forma de instrução biopolítica através da necropolítica.
Há algo que explique essa espetacularização?
Que o capitalismo é “gore”, já sabemos; é um capitalismo sangrento, que não tem como finalidade o melhoramento das condições de vida e sim a acumulação sem fim. Além disso, tem esse efeito de teatralização e reafirmação de perspectivas coloniais sobre as pessoas que estão do outro lado do muro, nos territórios do sul. Homens ferozes, indisciplinados, folgados, criminosos – sempre racializados. E as mulheres, quase sempre sensuais, lúbricas, desejosas de sexo. Assim temos sido retratados, e isso se tornava muito explícito na fronteira entre México e Estados Unidos, entendida como uma zona nacional de sacrifício. São lógicas próprias do norte do país, que foi muito descuidado pelos governos. Há uns 20 anos, a fronteira era tida como o fim do mundo civilizado, o lugar onde vivem os bárbaros. Os meios de comunicação mexicanos normalizaram a espetacularização dessa violência. A definição “gore” também expõe a responsabilidade pela maneira com que estamos legitimando as lógicas visuais do massacre. Isso se passa na Palestina neste momento, com o genocídio que todos vemos. Passei a chamar de “necroscopia” essa maneira normalizada de ver a morte, o assassinato, a violência, como algo cotidiano, que já não causa ressentimento em ninguém.
Com o conceito de “capitalismo gore”, você consegue não só nomear um fenômeno atual, mas também destacar os elementos de visualidade que guiam nossas sociedades ainda hoje.
Justamente estou trabalhando em um livro que por ora se chama “El regímen está transmitiendo en vivo, o el regímen live-streaming” [O regime está transmitindo ao vivo, ou o regime live-streaming], que fala da relação entre masculinidade, violência, espetacularização, mercados de morte e necroscopia. E discute essa forma de legitimação da visualidade que normaliza a morte e a mercantiliza, porque as imagens da violência já não são apenas denúncia, são objetos de consumo. São imagens cosméticas que ocultam coisas desagradáveis: o derramamento de sangue, a destruição de corpos e a violação de direitos.
Passados 15 anos da publicação de “Capitalismo gore”, o que hoje você pode dizer sobre as práticas de morte discutidas no livro?
Infelizmente, as práticas ainda têm vigência: hoje se exterminam populações e se transmite ao vivo. Em um texto de 2011, trabalhei com o conceito “da fascinante violência ao fascinante fascismo”, examinando de que maneira as relações masculinas de necropoder estavam atravessadas por uma hierarquia de classe, raça, geopolítica e religião. Também [analisei] que havia uma obediência absoluta à masculinidade como cartografia política de governo, um ditame impermeável às mudanças que vieram com a constituição de direitos para as minorias, as mulheres e as pessoas que não estavam dentro do mapa do “homem universal”.
Então, o que constatei: a necropolítica foi uma forma de governo direta, porém oculta, dentro do Estado, que encobria os próprios atos, metendo-os debaixo do tapete, perdendo os arquivos – o Brasil deve ter passado por isso durante a ditadura. O que é diferente hoje? Esse cinismo autoritário já não tem reservas. O discurso é: “faço o que faço pelo povo e vou seguir fazendo”. Donald Trump, Netanyahu, Jair Bolsonaro em seu momento, Javier Milei, Nayib Bukele etc. O que está mudando não é a violência radical exercida, mas o fato de que nada se oculta. A ideologia política é a da pilhagem e da violência, institucionalizando até a eliminação de certas populações.

O que explicaria a ascensão dessas figuras?
Embeleza-se a realidade através do entretenimento e das redes sociais e se exalta a figura de um sujeito carismático, o “pater familias”, seja no comando do país, seja na sociedade, ou mesmo na machosfera [universo masculino online radicalizado], com os incels [celibatários involuntários]. Em “Capitalismo Gore”, eu discuto as masculinidades que optam por obedecer à ideia de supremacia masculina no contexto do narcotráfico. Este continua sendo um dos argumentos importantes do livro, porque muitos daqueles que trabalham com a morte o fazem para sobreviver, mas também há uma mais-valia (ou uma “necro mais-valia”) no saber-se poderoso, uma restituição simbólica diante de um sistema que emascula o masculino e, com isso, produz uma masculinidade destrutiva.
Como se dá a influência do narcotráfico hoje em dia?
O narco está se diversificando; já não o entendemos apenas como tráfico de drogas sintéticas. Agora assegura segurança privada para diferentes empresas mineiras legais, apropriando-se de territórios de populações originárias e assediando esses povos a fim de incorporá-los ao crime. O narcotráfico também está criando empresas transnacionais para lavagem de dinheiro no mundo financeiro. Assim, não falaríamos mais de exceções à regra, mas de conglomerados empresariais que podem se dedicar a cotas legais ou ilegais.
A própria ideia de fronteira também se ampliou, para além da geopolítica: tem ocorrido “fronteirização” também no interior das populações. A fronteira se tornou um negócio: segmentar e dividir a fim de romper o laço social e assim afastar as pessoas de suas comunidades. Já não há uma axiologia que tenha que ver com o comunitário e sim uma axiologia empresarial, para a qual não há limite e o que importa é a produção ininterrupta e a acumulação de poder.
No Brasil, há facções criminosas vinculadas a denominações pentecostais. Na sua opinião, como a religião é usada na manutenção dessa mentalidade “gore”?
As expressões religiosas se tornaram maneiras de restituir simbolicamente as populações desfavorecidas. Certas igrejas evangélicas dizem: não temos problema com o dinheiro, não vamos te julgar, venha. Estabelecem assim uma espécie de “mercado afetivo”. Impulsionam votos em eleições e acabam por institucionalizar uma forma de governo por meio do religioso, que é potente e vem mudando os destinos políticos. Veja o caso de Jair Bolsonaro, cuja performance fazia entender que era ou é evangélico, ou o Javier Milei, que usa a quipá como se fosse judeu. Aqui, no México, a Igreja Luz del Mundo foi precursora, desde os anos 1920, ao realizar uma série de intervenções políticas e vender o voto, criando o caldo de cultivo para o ambiente que estamos vivendo hoje, no qual o fascismo é visto como parte de uma tradição cultural que não está violando direitos, mas sim “acomodando” as coisas. Defende-se o binarismo de gênero, as mulheres como mães e esposas e os homens provedores numa estrutura que remete aos anos 1940 ou 50, ao mesmo tempo em que se fala em povoar Marte ou conquistar o espaço, em um paradoxo evidente.
Como as tecnologias digitais têm beneficiado a mentalidade “gore”?
Em “Capitalismo Gore”, eu já identificava que a cartografia política da violência seria cada vez mais explosiva por conta da adição à violência e às suas imagens, estimulada pela espetacularização realizada pelos meios de comunicação tradicionais, mas também pelos novos meios. Se antes se falava em globalização, hoje podemos mencionar espécies de “glotalitarismos” – um globais totalitarismos –, que, através daquilo que denomino regime live-streaming, viralizam certos conteúdos, ocultam outros, criam “trends” e opiniões, utilizando as ferramentas e as estruturas dos meios digitais. Baseiam-se em uma expressão muito ocidental, que é a ocular. Desde o Renascimento, toda nossa educação visual se guia pela perspectiva. Em todos os quadros, nos espera uma narrativa de quem é o bom e quem é o mau, o justo, qual é o progresso, essas narrativas que disputam os efeitos de verdade. Isso é muito aditivo.
Bem, esses “glotalitarismos” criam uma forma de governo internacional por meio da consolidação de autoritarismos regionais, que participam da lógica global baseada na acumulação, no neoliberalismo, na economia de morte e em valores tradicionais. Isso vai se traduzindo em líderes carismáticos e em “machos brutais” no comando dos países, porque parece que há que voltar à racionalidade sexo-política do Ocidente, baseada na ideia de “é a força ou nada”. E aceita-se a exigência da “mão de ferro”, pois a população está tão assustada que prefere abdicar de seus direitos. O neoliberalismo mais cruento já não tem a função de produzir mercadorias, mas sim sensibilidades e desejos de consumo e deste modo beneficiar-se de nosso capital libidinal, como dizia Suely Rolnik. Esses novos governos autoritários estão criando uma muralha para proteger o capital financeiro acima de tudo. No centro dessa irresponsabilidade governamental, estão as empresas de tecnologia digital, que rentabilizam a disseminação de imagens e conteúdos. Criam uma cadeia de sentidos estética com a função de nos manter alertas e hiperestimulados, além de desistoricizar nossas lutas. Então, o que faz o “glotalitarismo”, por meio do autoritarismo e das redes: de um lado, apaga a memória das lutas políticas e a memória coletiva; de outro, embeleza a violência para que nem o Estado nem o mercado tenham responsabilidade sobre ela.
Em “Capitalismo Gore”, você propõe a categoria de “sujeitos endríagos” para definir os indivíduos que se dedicam a cumprir as tarefas sangrentas do narcotráfico. Por que os homens jovens continuam a ser atraídos para essas atividades?
Por meio da sensibilidade, se instaura uma forma muito insidiosa de violência. Me perguntava: como se conectam as masculinidades dos endríagos, daqueles que se dedicam aos trabalhos de violência e morte no crime organizado (ou desorganizado), com aqueles que não se dedicam a isso, mas subscrevem os mesmos valores de machismo, cinismo, desdobramento de poder e obediência à masculinidade hegemônica? Me dei conta de que isso ocorria através do consumo cultural de conteúdos violentos. Por exemplo: não é casual que Peso Pluma, cantor mexicano associado à narcocultura, seja hoje um dos mais escutados no mundo, entendamos ou não o que ele canta. Além disso, depois da pandemia, paira uma fadiga apocalíptica sobre as populações jovens, que pensam: “podemos viver só mais cinco anos, mas que seja com tudo o que queremos”. Não se importam com a vida, porque não há futuro traçável: empregos precários, sem perspectiva de aposentadoria, cada vez mais desconectados das relações sociais, como se recolhessem sempre frustração e nunca alívio.
Qual sua opinião sobre a atual produção artística mexicana? Corrobora a “necroscopia”, como você pontuou antes, ou há obras que têm despertado outras sensibilidades?
Ao longo da história política do México, houve muitas obras artísticas que denunciavam o problema da narcoviolência por meio da reprodução dessa mesma violência. Há 20 anos, o trabalho de Teresa Margolles [artista visual que lida com temas forenses], por exemplo, fazia muito sentido porque a lógica era denunciar através de uma perspectiva de representação. Agora, porém, não estamos mais em um momento de representar. Talvez nosso momento agora seja de uma denúncia não facilmente decodificada, uma denúncia endereçada ao poder.
O trabalho de Margolles continua a fazer sentido, mas nos aproximamos dele de outro modo. As imagens de denúncia já são facilmente confiscáveis pelo mesmo “capitalismo gore”, que as desnaturaliza e as desautoriza, metendo-as em uma sequência de outras imagens, numa montagem em que se acomodam belamente. O olhar contra a violência precisou se tornar mais sofisticado, porque muitos elementos de representação estão subordinados ao “capitalismo gore”. Por outro lado, há obras em que a sensibilidade não é explicitamente visual, mas que nos conduz a um trabalho mais interno e nos faz compreender a dor, pois afeta o corpo. Há um par de anos houve uma exposição sobre as consequências da violência em México em que se mostravam os processos de luto e de construção de comunidade. Havia um trabalho de uma artista, cuja irmã havia sido vítima de feminicídio, e o que se viam eram certa paisagens e objetos em gesso que remetiam à mulher assassinada. Essa obra possibilitava uma relação mais íntima com a pessoa e levava a uma sensibilidade cuja gramática não era confiscada pelo “capitalismo gore”. Penso também em um filme mexicano chamado “Sujo” (2024), de duas diretoras [Astrid Rondero e Fernanda Valadez] que trabalharam em conjunto. O longa trata da violência do narcotráfico no México, em um território bem específico – Michoacán –, mas a atenção se fixa no personagem principal. Quais são as possibilidades para esses jovens que se veem sugados pelo narco? O filme resolve as situações sem embelezar a violência, ainda que as paisagens um tanto devastadas pareçam bonitas. Não há sangue, é um filme introspectivo e não julga o protagonista. Assim, as cineastas nos fazem pensar e sentir com o personagem em toda a sua complexidade, em sua dor. No fim, descobrimos por que o título é esse. E há uma relação interessante não apenas com os humanos, mas com os animais e outras coisas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quais autores e autoras você têm lido ultimamente?
A poesia me encanta. Há um autor que sempre leio e releio: o poeta argentino Héctor Viel Temperley. No momento, estou com o livro da espanhola María Salvador, “Orientada a Stein”, porque [a poeta estadunidense] Gertrude Stein é uma de minhas autoras favoritas pela maneira com que constrói a linguagem. Também acompanho a produção de minhas colegas feministas, Silvia Federici, Suely Rolnik e Rita Segato. Gosto muito do trabalho de Jaime del Val, um filósofo madrilenho que fala do pós-humano, do meta-humano e do movimento como filosofia. Do Brasil, tenho lido Vilma Piedade e seu texto sobre “dororidades”. E volto sempre às minhas poetas-filósofas favoritas, as feministas chicanas: Cherríe Moraga e Chela Sandoval. Venho seguindo o trabalho de Lu Ciccia [pesquisadora argentina], que faz uma crítica à ideia do binarismo de gênero desde a biologia molecular. Leio muito coisas que não têm a ver com meu trabalho, pois isso me ajuda a pensar fora da caixa. Outra leitura de agora: “Quando deixamos de entender o mundo” [do chileno Benjamín Labatut].
MARIA FERNANDA VOMERO é jornalista e doutora em Artes Cênicas (USP)
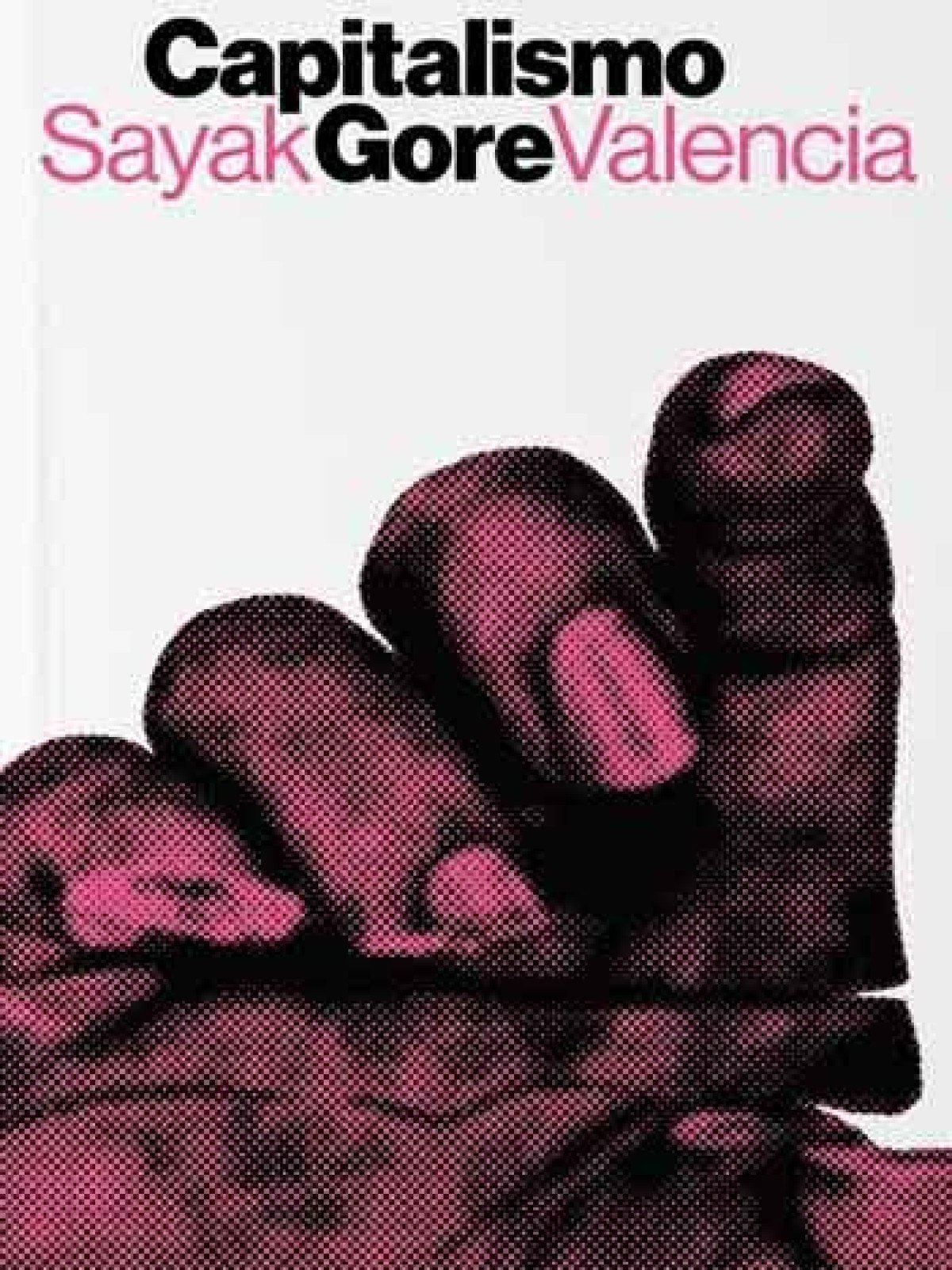
“Capitalismo gore”
• De Sayak Valencia
• Tradução de Igor Peres
• Sobinfluência edições
• R$ 78,00
