Livros retratam o apocalipse cotidiano do Japão
Novas traduções da literatura japonesa chegam ao Brasil e apresentam narrativas distópicas que cruzam trabalho exaustivo, identidade, angústias e tecnologia
compartilhe
Siga no
João Renato Faria
Especial para o EM
Um dos subgêneros da ficção científica de maior popularidade hoje, a distopia sempre encontrou no Japão um terreno fértil para propagação de ideias sobre o pós-apocalipse. Afinal, o país carrega até hoje o trauma de ter sido o único atacado com bombas nucleares, e viu e viveu de perto como o fim do mundo pode ser. No mundo ocidental e no Brasil, as distopias japonesas abriram caminho principalmente por meio do audiovisual, com obras como a série de filmes “Godzilla” e animes como “Akira” (que se passa em uma Tóquio reconstruída após um ataque nuclear) e “Ghost in the shell”, que discute o avanço da tecnologia sobre os corpos humanos.
Já na literatura japonesa, não só distópica, mas de modo geral, não encontrou esta mesma facilidade. Apesar de centenas de mangás terem recebido versões brasileiras, o que chegava ao país em termos de livros ficou restrito, durante décadas, apenas a alguns clássicos, bem como traduções amadoras feitas para a própria comunidade nipo-brasileira, com propósitos educacionais. Sem esquecer, claro, do trabalho louvável e solitário da editora Estação Liberdade, que publicou por aqui volumes como o épico “Musashi", de por Eiji Yoshikawa, e as primeiras versões em português brasileiro de Haruki Murakami (que depois encontrou abrigo na Alfaguara).
Leia Mais
Essa chave começou a virar no início da década passada. Diante do interesse cada vez mais crescente pela cultura pop e os hábitos de países como Coreia do Sul e China, editoras brasileiras estão apostando cada vez mais em traduções diretas de obras do Oriente. Apesar de o Japão entrar à reboque nessa onda, quem se beneficia é o leitor, que pode, finalmente, ter acesso a versões brasileiras de autores e autoras contemporâneos ou cuja obra ainda ressoa.
É o caso de Hiroko Oyamada, premiada autora de 41 anos (e que não por acaso, nasceu em Hiroshima), com “A fábrica”, lançado em 2013 no país asiático e que chega com tradução de Jefferson José Teixeira, pela Todavia. Já de Izumi Suzuki, escritora que atingiu status de cult no Japão após sua morte precoce, em 1986, aos 36 anos, chega a coletânea de contos “Tédio terminal”, que reúne histórias escritas entre os anos 1970 e 1980, com traduções de Andrei Cunha, Rita Khol e Eunice Suenaga, pela DBA Editora. Apesar de separados por quase 40 anos, é possível fazer uma ponte entre as duas obras, que tratam de assuntos como relacionamento abusivo das pessoas com o trabalho, identidade de gênero e sexualidade, uso excessivo de telas e falta de propósito de vida.
Sejam ambientadas em fábricas monstruosas ou em outros planetas no espaço sideral, as distopias de Oyamada e Suzuki não dependem de artifícios como meteoros, zumbis ou colapsos climáticos para se impor. Elas surgem a partir da lenta erosão da privacidade e da noção de espaço pessoal, e do esvaziamento cada vez maior das relações humanas, motivados principalmente por um avanço tecnológico que parece inexorável. Seja na precarização cada vez maior do trabalho, nos picos de ansiedade turbinada pelas redes sociais ou no desencanto com promessas de progresso que nunca se concretizam, elas apresentam futuros distópicos que já se insinuam como presente – e talvez por isso sejam livros cuja leitura incomodem tanto.

“Tédio terminal”/ Izumi Suzuki
A visionária do desespero
Repleta de robôs, carros elétricos e soluções de altíssima tecnologia, a China transmite, para o resto do mundo, neste primeiro quarto do século 21, a sensação de já estar vivendo no futuro. Mas entre os anos 1970 e 1980, quem ocupava esse espaço no imaginário mundial era o Japão. O país vivia um boom econômico, com Tóquio se tornando uma das principais capitais financeiras do mundo. Marcas como Sony, Toyota, Honda, Mitsubishi, Hitachi e Panasonic estavam por todos os lugares. O país atraiu, inclusive, nomes da ficção científica, como William Gibson, que situou boa parte do seu influente “Neuromancer”, de 1984, nos arredores de uma Tóquio futurista.
Em meio a essa onda de otimismo, Izumi Suzuki provou que um dos objetivos da ficção científica é prever o futuro, com algum grau de exatidão e pessimismo. Em “Tédio terminal", coletânea que reúne sete contos escritos entre os anos 1970 e 1980, ela consegue antever a estagnação econômica, social e sexual que o Japão enfrentaria nas décadas seguintes, e aborda temas que são extremamente atuais e populares, mas que chegavam a ser tabu ou até mesmo impensáveis na época, como identidade de gênero, feminismo, obsessão por telas e relacionamentos intermediados por inteligência artificial.
Com uma vida pessoal dura, principalmente após a morte do marido, o saxofonista Kaoru Abe, em 1978, Suzuki – que se matou aos 36 anos, deixando órfã uma filha de 9 anos – mantém um tom desalentador, deprimente, fatalista e desesperançoso nos seus contos. Não seria surpresa, por exemplo, se o livro fosse todo adaptado em uma temporada da série “Black mirror”, sucesso da Netflix que expõe justamente o que de pior pode emergir da sociedade quando a tecnologia avança sem barreiras éticas.
Três contos se destacam dos demais. “Um mundo de mulheres com mulheres” detalha uma sociedade homoafetiva feminina, em que os pouquíssimos homens que restam vivem em uma espécie de campo de concentração. A fuga de um deles provoca uma disrupção em uma família, e a descrição que Suzuki faz do (infelizmente) óbvio resultado do encontro, em apenas quatro linhas, é ao mesmo tempo fria e visceral.
“Piquenique noturno” descreve a última família em uma antiga colônia planetária, que tenta manter os hábitos e o estilo de vida dos terráqueos. Com poucas lembranças ou conhecimento sobre isso, eles usam de apropriação cultural – outro tema dificilmente discutido entre os anos 1970 e 1980 – para performar o que eles acreditam ser a identidade dos habitantes da Terra.
Por fim, no conto que dá nome ao livro, Suzuki detalha o relacionamento de um casal de jovens. Atordoados e apáticos pelo consumo excessivo de telas, decidem dar um passeio nas ruas. Entre dezenas de desempregados e uma sociedade econômica em colapso, eles testemunham um assassinato na rua. A experiência, porém, só passa a fazer sentido e soar real quando eles conseguem assistir, em uma tela grande, a uma filmagem do crime.
Ao rejeitar a influência ocidental do sci-fi, de assuntos como o otimismo tecnológico de Isaac Asimov e a abordagem metafísica de Philip K. Dick, Izumi Suzuki acabou por se debruçar sobre os temas incômodos e opressores da sociedade japonesa – e da humanidade como um todo – para criar seus universos vazios, sombrios e entorpecidos, onde transbordam as aflições sobre os papéis das pessoas na sociedade, as questões de gênero e a desumanização. O fato de soarem e serem extremamente atuais, como se tivessem sido escritos ontem, bem como o incômodo que a leitura causa, deveriam ser motivo de preocupação – e alerta.
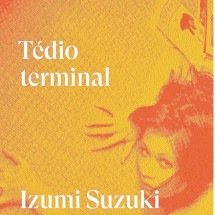
“Tédio terminal”
• De Izumi Suzuki
• Tradução de Andrei Cunha, Rita Khol e Eunice Suenaga
• DBA Editora
• 224 páginas
• R$ 76,90

“A fábrica”/ Hiroko Oyamada
A estética da burocracia
A expressão “bullshit jobs”, cunhada pelo antropólogo norte-americano David Graeber (1961-2020) em seu livro de mesmo nome (e ainda sem versão brasileira) de 2018, pode ser traduzida, a grosso modo, como empregos inúteis. São, segundo Graeber, empregos que, mesmo bem remunerados ou socialmente valorizados, não têm uma função real ou produtiva – ou que até prejudicam a sociedade –, mas que até os próprios trabalhadores percebem como desnecessários. Em outras palavras: trabalhos que existem apenas para dar a impressão de ocupação ou para manter estruturas burocráticas e hierárquicas funcionando.
Pois são “bullshit jobs” as ocupações dos três narradores de “A fábrica”, de Hiroko Oyamada. Escrito a partir da própria experiência da autora com um trabalho temporário em uma fábrica de automóveis japonesa, o livro é uma crítica aguda ao processo que Karl Marx (1818-1883) definiu como alienação, ou seja, quando o trabalhador é completamente separado do resultado de sua produção.
Não por acaso, nunca é revelado no livro o que a fábrica produz. Gigantesca e cinzenta, ela se espalha por uma área imensa, e chega a funcionar como uma cidade própria. Dentro dela cabem uma ponte de vários quilômetros, residências e até uma fauna própria, como uma espécie de ratão do banhado – um parente da capivara –, que vive nas tubulações da fábrica.
A primeira personagem apresentada é Yoshiko Ushiyama. Recém-formada na faculdade e querendo se dedicar à comunicação, ela acaba em uma vaga temporária operando máquinas trituradoras de papel. Já o pesquisador Yoshio Furufue é contratado diretamente de uma universidade para analisar os musgos que crescem na fábrica. Seu trabalho é inexplicavelmente cercado de mordomias, como a falta de um prazo para a entrega e o acesso livre a praticamente todas as dependências da fábrica. Por fim, o irmão de Yoshiko, que não chega a ter o nome revelado, era um engenheiro de sistemas que vai parar no setor de revisão de documentos da fábrica – um trabalho que é feito sem computadores, apenas com canetas vermelhas e papel.
O que se segue são situações que se encontram na fronteira entre o absurdo e o realismo fantástico. Um emprego na fábrica, que parece ser sinal de status para o mundo exterior, se revela, aos poucos, tão caótico e opressor quanto qualquer outro. Pouquíssimas explicações são dadas aos personagens, que seguem cumprindo suas funções sem entender quais são os seus propósitos na fábrica, ou até mesmo sem se ver, já que trabalham em setores totalmente isolados uns dos outros.
A engrenagem burocrática que move a máquina e a vida dos personagens encontra eco na obra de Franz Kafka (1883-1924) – influência declarada de Oyamada –, principalmente “O processo”. Essa burocracia desnorteante é centralizada na figura de Goto, que atua inicialmente como recrutador do trio e, depois, como principal intermediador da fábrica com eles, sempre evasivo, lacônico e sorridente.
Enquanto navegam esse colosso cinzento e despersonalizado, Yoshiko, seu irmão e Furufue vão acumulando perguntas. Por que existem tantos animais na fábrica? De onde vem as ordens que temos que cumprir? Qual o sentido disso tudo e por que estou aqui? A angústia aumenta junto com a resignação, gerando uma sensação de desconforto tanto nos personagens quanto no leitor, à medida em que o livro avança. O final, também kafkiano, não oferece conforto ou respostas. Apenas deixa clara a sensação de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.
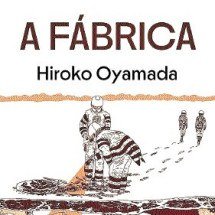
“A fábrica”
• De Hiroko Oyamada
• Tradução de Jefferson José Teixeira
• Todavia
• 144 páginas
• R$ 71,90
