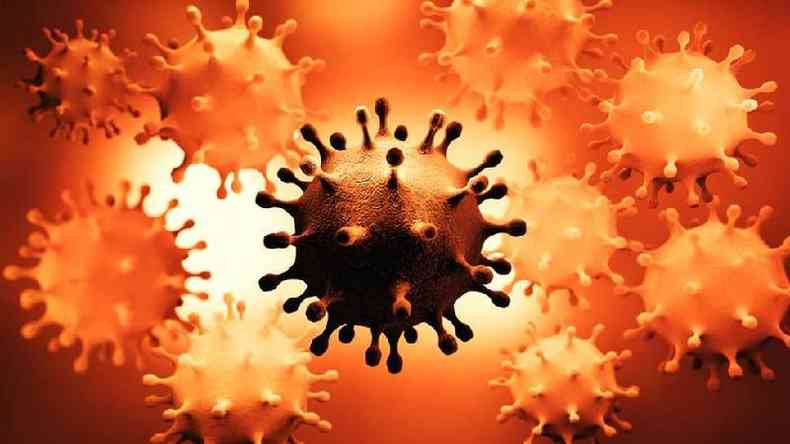
Se os v�rus pudessem ser definidos por uma �nica caracter�stica, a objetividade seria uma boa op��o. Afinal, sua meta � bem simples: invadir as c�lulas de um ser vivo e us�-las para criar novas c�pias de si mesmo, que v�o repetir esse processo.
Geralmente, o rito de invas�o e replica��o se prolonga por alguns dias, e o sistema imunol�gico consegue lidar com o problema ou o quadro evolui para uma situa��o mais s�ria, com risco de morte.
Mas h� um grupo de v�rus que d� um passo al�m. Logo ap�s a infec��o inicial, eles conseguem ficar escondidos em algum canto do organismo.
Essa fase pode durar meses, anos ou at� d�cadas, e s� acaba quando as c�lulas de defesa deixam de funcionar como o esperado. Da�, a infec��o reaparece e volta a causar problemas de sa�de.
E esse grupo tem diversos representantes bem conhecidos, que v�o do HIV, o causador da Aids, at� os herpes simples 1 e 2, que provocam feridas no canto da boca e na regi�o genital.
Mas como eles conseguem passar despercebidos? E como ressurgem depois de tanto tempo? Ser� que com o Sars-CoV-2, o coronav�rus respons�vel pela covid-19, pode ser assim?
Um ap�ndice (ou uma edi��o) no livro da vida
Basicamente, existem quatro caminhos para um v�rus se esconder no corpo.
O primeiro deles � usado com frequ�ncia pela fam�lia herpes, que al�m dos v�rus da herpes simples do tipo 1 e 2, inclui o varicela, que provoca a catapora, o Epstein-Barr, que est� por tr�s da "doen�a do beijo", entre outros.
"Eles t�m DNA como material gen�tico e conseguem ficar dentro no n�cleo das c�lulas, como um ap�ndice do nosso pr�prio c�digo gen�tico", explica o infectologista D�cio Diament, do Hospital Israelita Albert Einstein, em S�o Paulo.
Vale lembrar aqui que o DNA � o conjunto de letras (conhecidas na Ci�ncia como bases nitrogenadas) que comp�em o genoma. Elas ficam "enfileiradas" em duas fitas, geralmente no formato cl�ssico de dupla h�lice.
"Esses v�rus da fam�lia herpes ficam dormentes por muito tempo, sem se replicar com muita intensidade. Eles conseguem inibir as defesas internas das c�lulas e ficam 'invis�veis' para o sistema imunol�gico", complementa o m�dico, que tamb�m � consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia.
O segundo mecanismo � usado comumente por outra fam�lia: os retrov�rus, como o HIV e o HTLV.
� importante mencionar que essa dupla n�o possui DNA, mas, sim, RNA. Ou seja: as informa��es gen�ticas deles est�o organizadas de forma mais simples, numa �nica fita de sequ�ncias de bases nitrogenadas.
Os retrov�rus conseguem se fundir com nosso c�digo gen�tico. Essa integra��o acontece com mais frequ�ncia nos linf�citos T e nos macr�fagos, duas pe�as importantes do sistema imunol�gico.
Mas como � que eles conseguem essa proeza, se falamos de v�rus RNA e n�s somos baseados em DNA?
Tanto o HIV quanto o HTLV possuem uma enzima chamada transcriptase reversa. Em resumo, ela consegue converter o c�digo gen�tico desses v�rus de RNA para DNA. Com isso, eles s�o capazes de se incorporar no genoma humano e permanecer escondidos por muito tempo.
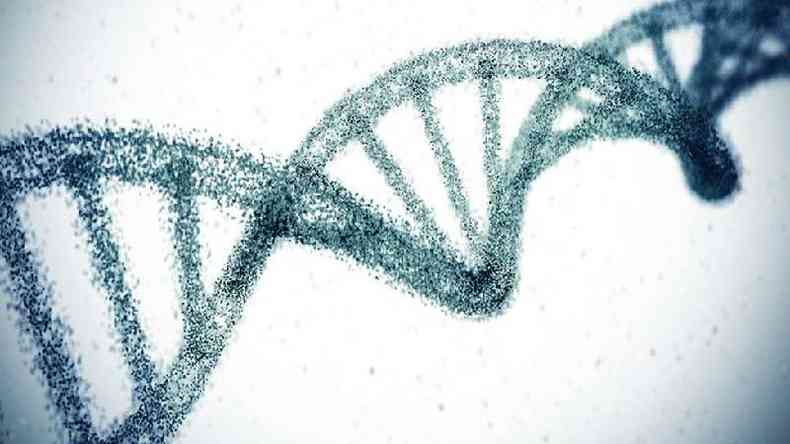
"Isso representa uma dificuldade enorme, porque n�o conseguimos elimin�-los nem com os medicamentos dispon�veis", contextualiza o m�dico Estev�o Portela Nunes, vice-diretor de servi�os cl�nicos do Instituto Nacional de Infectologia da Funda��o Oswaldo Cruz (INI-FioCruz), no Rio de Janeiro.
Ou seja: o coquetel antirretroviral usado em pacientes infectados com o HIV at� consegue inibir a replica��o viral. Por�m, se a pessoa deixa de tomar os rem�dios, h� o risco de o HIV voltar � ativa novamente.
Santu�rios e outros mist�rios
A terceira op��o de esconderijo para alguns v�rus s�o os chamados s�tios imunoprivilegiados.
S�o regi�es do organismo que o sistema imune n�o consegue acessar com tanta facilidade, como os test�culos, os olhos e o sistema nervoso central (medula espinhal e c�rebro).
A a��o das c�lulas de defesa � limitada nesses locais para evitar que o processo inflamat�rio, que ocorre quando elas est�o combatendo uma infec��o, danifique estruturas mais sens�veis, caso dos nervos e do aparelho reprodutor.
Se, por um lado, isso representa uma forma de prote��o do pr�prio corpo, por outro, cria uma esp�cie de "santu�rio" para alguns v�rus prosperarem por um tempo a mais.
Trabalhos publicados nos �ltimos anos encontraram o zika e o ebola no s�men de pacientes, por exemplo.
O imunologista Daniel Mucida, professor titular da Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos, pondera que o fato de o v�rus ser encontrado no s�men ou em outras partes do corpo n�o significa necessariamente que ele est� ativo e pode causar problemas futuros.
"O impacto dessa persist�ncia viral ainda n�o est� clara", diz.
E, pelo que se sabe at� o momento, a perman�ncia dos v�rus nos tais santu�rios n�o se prolonga por tanto tempo assim. Em alguns meses, mesmo com o acesso mais limitado, o sistema imunol�gico consegue eventualmente eliminar os invasores.

H� ainda um quarto grupo de v�rus capazes de prolongar a estadia no organismo, mesmo fora dos s�tios imunoprivilegiados.
"� o caso do v�rus sincicial respirat�rio, que pode persistir nos pulm�es e est� associado com inflama��es cr�nicas, principalmente em crian�as, e do v�rus chikungunya, que permanece nos m�sculos e nas articula��es", exemplifica a imunologista Carolina Lucas, pesquisadora na Escola de Medicina da Universidade Yale, nos Estados Unidos.
Os cientistas ainda est�o estudando porque isso acontece em alguns pacientes (e em outros n�o).
Trope�o imunol�gico
Embora possa parecer que todos esses v�rus est�o dormentes e n�o s�o mais motivo de preocupa��o, alguns deles "despertam" ap�s alguns anos (ou d�cadas).
"Quando o sistema imunol�gico d� uma bobeada por algum motivo, esses pat�genos podem ressurgir e causar problemas", esclarece Diament.
Essa "bobeada" varia de infec��o para infec��o. No caso do herpes simples, se o indiv�duo infectado fica longas horas no sol ou est� num momento de vida muito estressante, isso j� pode ser suficiente para as les�es brotarem novamente.
Em outras situa��es, o pr�prio envelhecimento natural do organismo abre alas para que alguns agentes infecciosos retomem os trabalhos.
O exemplo cl�ssico disso � o varicela-z�ster, v�rus que causa catapora (geralmente ainda na inf�ncia) e, depois, passa d�cadas escondido no organismo.
Mais para frente, ap�s os 50 ou os 60 anos, esse pat�geno pode ressurgir e provocar um quadro chamado de herpes-z�ster ou cobreiro, marcado por les�es em formatos de bolhas bem dolorosas em uma faixa do corpo (geralmente no tronco ou no abd�men).
Hoje em dia, existe at� uma vacina indicada para esses indiv�duos mais velhos. No Brasil, ela est� dispon�vel apenas na rede privada.

E existem, claro, uma s�rie de outras condi��es que prejudicam a a��o do sistema imunol�gico e podem servir de oportunidade para os v�rus.
"Isso inclui acidentes e traumas graves, cirurgias de grande porte, transplantes, tumores, tratamentos medicamentosos e outras infec��es graves", lista Diament.
Nesses casos, os m�dicos j� ficam de olho e podem fazer tratamentos para minimizar os danos.
Por fim, vale lembrar tamb�m que alguns pat�genos est�o relacionados a doen�as que nem sempre t�m a ver com as manifesta��es iniciais da infec��o.
� o caso de alguns v�rus da hepatite, que podem provocar c�ncer de f�gado, do HPV, que est� por tr�s de diversos tipos de tumores, e do Epstein-Barr, que recentemente foi associado � esclerose m�ltipla.
E o coronav�rus?
Diante de uma diversidade t�o grande de v�rus, ser� que o Sars-CoV-2, o causador da covid-19, tamb�m poderia persistir ap�s a infec��o inicial?
Os especialistas consultados pela BBC News Brasil consideram improv�vel que ele tenha ou desenvolva essa capacidade.
"O Sars-CoV-2 � um v�rus de RNA que n�o possui aquela enzima de transcriptase reversa, como o HIV. Portanto, ele n�o consegue se integrar ao nosso genoma", ensina o bi�logo molecular Carlos Menck, do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ci�ncias Biom�dicas da Universidade de S�o Paulo (ICB-USP).
Ele tamb�m n�o possui DNA em sua constitui��o, como acontece com os v�rus da fam�lia herpes, o que impede a persist�ncia prolongada dele na c�lula.
"E os casos que vemos agora, de pessoas que est�o com covid de novo, acontecem porque elas se infectaram com o coronav�rus pela segunda vez, e n�o porque ele ficou escondido no organismo delas durante meses", esclarece o especialista.
"Se observamos qualquer coisa diferente disso com o Sars-CoV-2, ser� uma surpresa muito grande para n�s", completa.
Mas como explicar ent�o os casos de covid longa, em que indiv�duos apresentam inc�modos por meses, mesmo ap�s se recuperarem dos primeiros inc�modos?
Diament esclarece que esse fen�meno parece estar mais relacionado � resposta do sistema imunol�gico diante da invas�o do coronav�rus.
"Em alguns pacientes, a covid provoca um verdadeiro estrago que pode durar meses e se manifestar por meio de fadiga, dificuldade de concentra��o, perda de olfato"

"Isso parece ser consequ�ncia do processo inflamat�rio que ocorre durante os primeiros dias de infec��o. Em alguns casos, o sistema imune reage de forma violenta, e os efeitos disso podem se prolongar", explica o m�dico.
Lucas e Mucida dizem, por�m, que n�o est� descartada nestes casos a persist�ncia de alguns componentes virais, como peda�os de prote�na e de RNA, no organismo.
"Existem evid�ncias que apontam para os dois lados, inclusive com a observa��o de RNA viral em regi�es como o intestino de forma prolongada", apontam.
Resta saber se esses pedacinhos de v�rus seriam capazes de manter o sistema imune em estado de vig�lia e provocar danos por semanas ou meses ou s�o apenas um achado sem nenhum efeito pr�tico na sa�de das pessoas.
Mas, como Portela Nunes, da FioCruz, ressalta, no caso da covid-19, j� temos ao menos uma boa not�cia: "A vacina��o parece proteger ou minimizar esses inc�modos de longo prazo".
Sabia que a BBC est� tamb�m no Telegram? Inscreva-se no canal.
J� assistiu aos nossos novos v�deos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

/imgs.em.com.br/bbc/bbcnews.jpg)