
Depois de diagnosticar a perenidade do patrimonialismo do Estado brasileiro, pa�s formado “�s avessas”, retroagindo a seis s�culos de hist�ria em “Os donos do poder” – Forma��o do patronato pol�tico brasileiro” (Companhia das Letras), Raymundo Faoro (1925-2003), ainda de frente para o passado para prospectar o futuro, encontra tamb�m as vozes da liberdade, as ra�zes democr�ticas e republicanas, heran�a das conjura��es dos s�culos 18 e 19, que invoca, naquela d�cada de 1980, como tributo para a redemocratiza��o do pa�s. Faoro se encontrava em meio a uma transi��o pol�tica de vetor ainda em forma��o, pelo confronto de diferentes perspectivas de “democracia”: ser� que o Brasil, ap�s a brutal ditadura militar, caminharia, como queria o general Ernesto Geisel – presidente entre 1974 e 1979 – para um governo autorit�rio civil em substitui��o ao autorit�rio militar, para uma “democracia relativa”? Ou ser� que a sociedade brasileira se mobilizaria por um governo de fundamentos democr�ticos, rompendo com a tradi��o patrimonialista do Estado brasileiro e dos “donos do poder”?
� nesse contexto que o ga�cho Raymundo Faoro, que j� deixara a presid�ncia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – e constitu�ra-se uma das grandes refer�ncias nacionais de mobiliza��o pela redemocratiza��o –, escreve, na d�cada de 1980, um conjunto de artigos publicados esparsamente, agora organizados pelo jurista e professor em�rito da Universidade de S�o Paulo F�bio Konder Comparato, editados em “A Rep�blica inacabada” (Companhia das Letras), com posf�cio de Helo�sa Starling, historiadora, pesquisadora, escritora e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. O livro re�ne tr�s ensaios: “Existe um pensamento pol�tico brasileiro?”, sobre a fal�cia do liberalismo brasileiro durante o Imp�rio; “Assembleia Constituinte: A legitimidade recuperada”, que investiga a disfuncionalidade das constitui��es do Brasil; e “S�rgio Buarque de Holanda: Analista das institui��es brasileiras”, um estudo sobre as contribui��es do intelectual.
Ao mesmo tempo em que Faoro, esse original int�rprete do Brasil, carrega da hist�ria os pilares democr�ticos que inspiram a Constituinte de 1988; na mesma dire��o, dirige o seu ativismo pol�tico para a funda��o de um Estado de liberdades e direitos civis de “baixo para cima”. “Faoro foi em busca de uma matriz democr�tica, de uma raiz que pudesse evocar na hist�ria brasileira como legado para sairmos da ditadura. Ele est� se indagando: ‘Onde est�o as nossas ra�zes de liberdade?’. No momento da escrita dos artigos de “A Rep�blica inacabada”, Faoro precisa ter um projeto de pa�s e precisa construir as ferramentas do pensamento e da reflex�o para entender que tipo de Constitui��o Federal precisamos, que Constituinte defendemos, que problemas do autoritarismo precisam ser atacados. Onde est�o as mensagens democr�ticas ou elas n�o existem e vamos ter de partir do zero? Nesse livro, ele encontra as ra�zes da liberdade, nas conjura��es”, considera Helo�sa Starling em entrevista ao Estado de Minas.
A incerteza quanto ao futuro � irm� de Faoro naquela travessia em que ele mira, com clareza, a funda��o de um estado democr�tico. “Naquele momento, ele n�o tinha certeza de nada: se a transi��o democr�tica se completaria em dire��o � democracia ou a um arremedo. Ele n�o tinha certeza de que a sociedade manteria e acompanharia a luta pela liberdade, tanto que ele est� chamando as pessoas para a mobiliza��o”, considera a historiadora. Olhando para a atual conjuntura pol�tica do Brasil, em que pela primeira vez na hist�ria um governante utiliza a pr�pria elei��o para degradar sistematicamente as institui��es democr�ticas em dire��o a um projeto autorit�rio, Helo�sa Starling aponta para uma nova travessia de incertezas, similar �quela percorrida por Faoro e a sociedade brasileira nos anos 80. “Faoro est�, quando escreve os ensaios, numa situa��o muito parecida com que n�s estamos hoje. Ele estava no meio da travessia e n�s tamb�m estamos”, afirma ela, assinalando que a sociedade brasileira est� diante de uma nova escolha, que pode caminhar para a refunda��o dos fundamentos democr�ticos do estado ou o aprofundamento de sua destrui��o. “A hist�ria n�o � destino, � escolha. Faoro escolheu e escreveu esses artigos para dizer qual foi a escolha que ele fez e que a sociedade naquele momento o acompanhou. Temos de fazer uma escolha de como vamos garantir a democracia. Isso passa pela mobiliza��o da sociedade, por uma elei��o e passa por n�o mais aceitarmos certas coisas”, sustenta ela, tamb�m invocando o passado recente, em que uma frente democr�tica assegurou a travessia para a Constitui��o de 1988.
“Se o que estamos vivendo hoje � in�dito, em termos de um presidente eleito atacar por dentro, para degradar e acabar com a democracia, reagir a isso n�o. Faz parte da hist�ria do Brasil a capacidade de organizar a frente democr�tica em defesa da democracia e da liberdade. Ali�s, Faoro nos ensinou a fazer isso”, afirma a historiadora, lembrando que buscar essas ra�zes para ajudar o pa�s nesta travessia � o papel do historiador.
Di�logo com os donos do poder
� medida que fazia uma travessia em busca de uma transi��o para um Estado democr�tico, os ensaios de Faoro reunidos em “A Rep�blica inacabada” dialogam com a sua obra cl�ssica, “Os donos do poder – Forma��o do patronato pol�tico brasileiro”: a cr�tica de Faoro ao Estado patrimonialista diz respeito � necessidade de democratiza��o de seus fundamentos, assim como a afirma��o de crit�rios universalistas para a sua a��o pol�tica e econ�mica. Considerada pelo soci�logo, cr�tico liter�rio e professor universit�rio Antonio Candido (1918-2017) como um dos 10 melhores livros para se conhecer o Brasil, com 822 p�ginas, a mais nova edi��o da obra � da Companhia das Letras, tem pref�cio de Jos� Eduardo Faria, posf�cio de Bernardo Ricupero e Gabriela Nunes Ferreira, al�m de tr�s textos de fortuna cr�tica. “De cima para baixo” e “de baixo para cima” s�o duas express�es dicot�micas muito empregadas por Faoro na obra. A primeira � refer�ncia ao estamento burocr�tico, fechado em si e aut�nomo em rela��o � sociedade. J� a segunda, trata da soberania popular. “Em tempos de crise da sociedade, das institui��es pol�ticas e da democracia, voltar aos escritos de Faoro pode fornecer elementos preciosos para repensar a rela��o entre Estado e sociedade no pa�s. Sobre o sentido que essa rela��o deve tomar, Faoro n�o deixa d�vida: de baixo para cima”, sustentam Ricupero e Ferreira.
De Dom Jo�o I (1357 - 1433) – primeiro monarca portugu�s da Casa de Avis e o d�cimo rei de Portugal –, a Get�lio Vargas (1882-1954) – l�der da Revolu��o de 1930 que enterrou a Rep�blica Velha, esse � o per�odo sobre o qual Raymundo Faoro se debru�a com o prop�sito de identificar as ra�zes do patrimonialismo brasileiro. Faoro reconstr�i a hist�ria de Portugal e do Brasil com particular �nfase na rela��o de subordina��o da sociedade ao Estado. O Brasil, para ele, representa o exemplo de pa�s formado �s avessas, em que a na��o foi criada pelo Estado, politicamente constitu�do quando Tom� de Sousa, nomeado governador-geral, desembarcou na Bahia, em 1549, com o Regimento de Governo. A coloniza��o portuguesa � a base explicativa, a partir da qual Faoro analisou a forma��o do patronato pol�tico e o patrimonialismo do Estado brasileiro, ou seja, um estamento que se apropriou dos aparatos pol�tico-administrativos, usando o poder p�blico para fazer valer os seus pr�prios interesses.
Quando a Editora Globo publicou, em 1958, a primeira edi��o de “Os donos do poder”, Max Weber (1864-1920), um dos precursores da sociologia econ�mica, autor em quem se apoia Faoro, ainda era pouco conhecido no Brasil. Faoro toma de Weber o conceito de estamento, por este utilizado para descrever a sociedade feudal europeia, estruturada no clero, na nobreza e no povo. Faoro se det�m sobre a modalidade estamental patrimonial, para explicar o Brasil: � aquela em que o estamento dominante utiliza o poder pol�tico como se fora sua propriedade. Da� explica-se o t�tulo original de sua obra.
Interpretando a hist�ria n�o com a vis�o marxista de tipo estrutural, que identifica como motor as lutas de classe do seio da sociedade civil, Faoro coloca o foco na superestrutura, ou seja, no Estado. A tese � de que, assim como a portuguesa, tamb�m a sociedade brasileira foi tradicionalmente moldada por um estamento patrimonialista constitu�do, originalmente, pelos altos funcion�rios da Coroa, e depois, no per�odo republicano, pelo grupo funcional que cerca o chefe de Estado. “Sobre a sociedade, acima das classes, o aparelhamento pol�tico – uma camada social, comunit�ria, embora nem sempre articulada, amorfa muitas vezes – impera, rege e governa, em nome pr�prio, num c�rculo imperme�vel de comando. Essa camada muda e se renova, mas n�o representa a na��o, sen�o que, for�ada pela lei do tempo, substitui mo�os por velhos, aptos por inaptos, num processo que cunha e nobilita os rec�m-vindos, imprimindo-lhes os seus valores”, escreve Faoro. Longe de corresponder a uma burocracia moderna, racional, impessoal e organizada em carreiras administrativas, tal estamento diz respeito ao tipo tradicional de domina��o pol�tica, em que o poder n�o � uma fun��o p�blica, mas sim objeto de apropria��o privada por certo grupo de pessoas privilegiadas, que dominam a burocracia do Estado e, do aparato pol�tico-administrativo, extraem prest�gio, benef�cios, riqueza, por meio dos quais exercem o poder.
Este � um livro de “muitas vidas” que reconstr�i a hist�ria de “um romance sem her�is”, nas palavras de Bernardo Ricupero e Gabriela Nunes, autores do posf�cio da nova edi��o. Isso porque a ousada tese de Faoro, quando lan�ada ao final da d�cada de 1950 – a de que o Estado brasileiro paira independente e aut�nomo sobre as classes sociais e a na��o –, n�o teve repercuss�o � �poca. Talvez porque a obra fora lan�ada em meio ao otimismo desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek – que anunciava o ponto de inflex�o na industrializa��o e de crescimento da economia brasileira ao estilo “50 anos em 5” – “Os donos do poder” n�o tenha despertado tanto interesse naquele momento. Publicada pela Editora Globo, de Porto Alegre, a primeira edi��o tinha 271 p�ginas, 14 cap�tulos, 140 notas de rodap� e escassos leitores: levou 10 anos para se esgotar.
Dezessete anos depois, contudo, no contexto do regime autorit�rio-militar, o reiterado dom�nio dos militares sobre o aparato estatal, al�m do endurecimento do regime a partir de 1968, constitu�am refor�o ao argumento da continuidade do estamento patrimonial e burocr�tico na forma��o do Estado brasileiro. O cientista pol�tico Marcelo Jasmin aponta: “Tornara-se sensato imaginar que, mais uma vez, aquele estamento burocr�tico – ou fra��o sua, a militar – retomava a condu��o da hist�ria brasileira, o que dava ao golpe militar uma nova inteligibilidade sedutora nos quadros interpretativos de ‘Os donos do poder’. Se os fatos pareciam confirmar a tese do livro, a tese servia, naqueles anos 1970, como instrumento de luta contra os militares, ampliando a sua recep��o para fora dos meios acad�micos.”
A segunda edi��o, revista, foi publicada em 1975 pelo conv�nio entre a Editora Globo e a Editora da Universidade de S�o Paulo (Edusp). Ampliada para 750 p�ginas, 1.335 notas e refer�ncias bibliogr�ficas, al�m de dois cap�tulos adicionais que estendem o mesmo argumento em an�lise da realidade brasileira do per�odo republicano. A obra se tornava refer�ncia obrigat�ria nos meios acad�micos, intelectuais e pol�ticos e do pensamento social da Am�rica Latina. Naquele momento, Faoro, j� como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), era uma figura de proemin�ncia nacional, militante contra a ditadura militar, contra a tortura e pela reabertura democr�tica, inclusive respons�vel, em 1978, pelo restabelecimento do habeas corpus, suspenso pelo Ato Institucional nº 5 (AI-5), de 13/12/1969.
Em termos econ�micos, a tese de Faoro da domina��o patrimonial desenvolvida no Brasil nos moldes do Estado portugu�s associa-se a um tipo de capitalismo – o “capitalismo politicamente orientado”. Segundo o autor, este que constitui uma esp�cie de “pr�-capitalismo, centro da aventura, da conquista e da coloniza��o, moldou a realidade estatal, sobrevivendo e incorporando na sobreviv�ncia o capitalismo moderno, de �ndole industrial, racional na t�cnica e fundado na liberdade do indiv�duo”. � assim que, na vis�o do autor, o capitalismo moderno – ou comercial – seria dirigido pelo estamento em seu pr�prio benef�cio, dominado por monop�lios e pela intromiss�o que, nas palavras do autor, limitam o desenvolvimento da economia, que nasceu e cresceu “� sombra da Casa Real”, como “ap�ndice do Estado”.
Na an�lise de Faoro, do Estado prov�m toda a iniciativa social, econ�mica e pol�tica, o que relega a na��o � mera condi��o de espectadora do capitalismo politicamente orientado. “A anemia econ�mica � tamb�m a anemia pol�tica e, se a falta do capitalismo industrial � raz�o do subdesenvolvimento, a inexist�ncia das classes aut�nomas explica o car�ter autorit�rio e excludente da pol�tica nacional. O resultado � que n�o h� sociedade civil independente, n�o h� pensamento liberal, nem capitalismo racional – signos pressupostos de modernidade –, mas a domina��o patrimonial, estamental e burocr�tica – signos de atraso. Assim transposta para a hist�ria brasileira, a teoria dos tipos weberianos de domina��o produz o retrato de uma aus�ncia, de uma impossibilidade, retrato que diz de um outro, desejado, talvez, mas que n�o houve e que n�o h�”, sustenta Marcelo Jasmin em sua cr�tica � obra. Nesse sentido, deve-se ao “pecado original da forma��o portuguesa”, que marcou de forma definitiva a forma��o hist�rica brasileira, a tese, que, nos termos de Jasmin, se formula pela nega��o: “o patrimonialismo estamental e burocr�tico inviabilizou, no Brasil, a modernidade da economia racional e da legalidade do Estado de direito”.
ENTREVISTA
Helo�sa Starling (historiadora e autora do posf�cio de "A Rep�blica inacabada")
Como localiza Raymundo Faoro dentro da literatura social e pol�tica brasileira?
Faoro era compromissado com a cena p�blica: vai para a rua, aos debates, enfrenta a cr�tica contra a grande frente democr�tica que se constr�i no Brasil para a democratiza��o, tem uma atividade pol�tica. E, ao mesmo tempo, consegue engendrar um pensamento novo sobre o Brasil. Ent�o, o mesmo Faoro se torna, durante a ditadura militar, uma das grandes refer�ncias da mobiliza��o da sociedade em defesa da redemocratiza��o, e foi um ativista; Faoro � tamb�m um pensador, da linhagem dos int�rpretes do Brasil, que precisa refletir conceitualmente para ter um projeto, para construir as ferramentas que conduzem o seu ativismo. � um perfil raro. Advogado, Faoro se junta aos soci�logos, escritores, pensadores como Joaquim Nabuco, que j� no s�culo 19 registrava que somos uma fic��o engenhosa de na��o, porque forjados na escravid�o: criamos uma epiderme civilizat�ria, mas sem uma cultura democr�tica, essa epiderme se rompe. Faoro vai � hist�ria de Portugal tentar entender por que se forma um tipo de Estado e de elite no Brasil que vai se modificando com o tempo, se moderniza, mas mant�m um padr�o de domina��o patrimonialista. Faz uma leitura do Brasil que retrocede num tempo anterior ao Estado brasileiro, vai a Portugal e na Independ�ncia, momento em que se funda o Estado. Para Faoro, o que explica a nossa dificuldade democr�tica e republicana – porque somos uma rep�blica oca, vazia de republicanismo e dos valores do republicanismo – � a forma de domina��o que se estabelece: ao longo do tempo da Independ�ncia at� a d�cada de 1980, mudam -se os padr�es, as elites, mas tem um eixo que permanece, o patrimonialismo.
Publicada pela primeira vez em 1958, foi durante a d�cada de 1980 que “Os donos do poder” teve maior repercuss�o. Como esses ensaios de Faoro, escritos na d�cada de 1980, organizados por F�bio Konder Comparato em “A Rep�blica inacabada”, dialogam com “Os donos do poder”?
Toda vez que estamos diante de formas autorit�rias, Faoro chama a aten��o para o momento, para o esfor�o de entender o que est� acontecendo. Nos momentos de crise pol�tica e nos momentos em que a liberdade est� amea�ada por formas pol�ticas autorit�rias, � muito grande a necessidade de entendermos n�s mesmos para projetar o futuro. � como se no ensaio de “A Rep�blica inacabada” Faoro estivesse dialogando com a obra “Os donos do poder”, dizendo assim: “Entendi a domina��o. E agora, como vamos fazer para sair de uma forma autorit�ria, construir a rep�blica democr�tica?”. Faoro foi ent�o em busca de uma matriz democr�tica, de uma raiz que pudesse evocar na hist�ria brasileira como legado para sairmos da ditadura. Ele est� se indagando: “O que tem no passado de nossa hist�ria, que posso evocar para entender que a democracia foi poss�vel? Onde est�o as nossas ra�zes de liberdade?”. No momento em que escreve esses artigos, Faoro precisa ter um projeto de pa�s e precisa construir as ferramentas do pensamento e da reflex�o para entender que tipo de Constitui��o Federal precisamos, que Constituinte defendemos, que problemas do autoritarismo precisam ser atacados. Onde est�o as mensagens democr�ticas ou elas n�o existem e vamos ter de partir do zero? Nesse livro, ele encontra as ra�zes da liberdade nas conjura��es. Depois de Faoro, v�rios historiadores foram refletir sobre a import�ncia das conjura��es e do que vamos chamar de Ciclo Revolucion�rio da Independ�ncia, como l� em Pernambuco, com a Revolu��o de 1817 (Revolu��o Pernambucana), ali tem ideias novas em movimento que criam um legado, uma heran�a, que podemos dizer que somos tribut�rios dela e atualiz�-la.
O atual momento do Brasil tem analogia com o que foi vivenciado por Faoro na d�cada de 1980?
� a travessia. O momento do Faoro quando est� escrevendo os artigos, ele n�o tem certeza de nada. Hoje vemos que deu certo. Mas naquele momento ele n�o tinha certeza de nada: se a transi��o democr�tica se completaria em dire��o � democracia ou a um arremedo dela. Ele n�o tinha certeza de que a sociedade manteria e acompanharia a luta pela liberdade, tanto que ele est� chamando as pessoas. Faoro estava numa situa��o muito parecida com a que n�s estamos. Ele estava no meio da travessia e n�s tamb�m estamos. A hist�ria n�o � destino, � escolha. Faoro escolheu e escreveu esses artigos para dizer qual foi a escolha que ele fez e que a sociedade naquele momento o acompanhou. Qual � a escolha que vamos fazer no meio da travessia para chegar na outra margem? Temos de fazer uma escolha de como vamos garantir a democracia. Isso passa pela mobiliza��o da sociedade, por uma elei��o e passa por n�o mais aceitarmos certas coisas. � preciso reagir, colocar limites. Quem se omite diante do mal est� praticando o mal. Essa � uma decis�o da sociedade. Para al�m das institui��es. A sociedade precisa tomar essa decis�o. Esse � o momento da travessia.
O que o pa�s fez naquela travessia que poder� repetir nesta nova passagem?
Olhamos para o conjunto dos ensaios e percebemos: isso aqui nos permite pensar hoje. O que Faoro n�o poderia imaginar, e nenhum de n�s poderia, o que ocorreu no Brasil, algo in�dito em nossa hist�ria: h� um processo de degrada��o democr�tica que ocorre por dentro, pela a��o de um presidente eleito democraticamente. Isso nunca aconteceu. Todas as vezes em que a democracia no Brasil correu risco, foram riscos a partir de a��es externas. Em 1937, houve um golpe; em 1964, um outro golpe fora do Estado para destruir a democracia. Essa possibilidade de estarmos lidando com um processo interno de degrada��o, passo a passo, de destrui��o sistem�tica da Constitui��o e da democracia, acho que Faoro n�o poderia imaginar isso. Ao olhar para Faoro no momento em que escreve esses ensaios, guardadas as devidas propor��es, � como pensarmos hoje. Se n�o formos capazes de identificar os problemas da degrada��o democr�tica no Brasil e qual � o repert�rio democr�tico e libert�rio que o passado nos d�, para que possamos reelabor�-lo no presente, n�o tem pensamento. E se n�o tem pensamento, n�o vamos construir um projeto. Vamos ficar presos numa brecha do tempo. O passado n�o � mais, o futuro n�o � ainda. Precisamos sair dessa brecha.
Por que no Brasil se fez prosperar uma narrativa de que o pa�s teria tido uma independ�ncia pac�fica?
Faoro aponta para dois projetos em disputa no momento da Independ�ncia, em que estamos fundando o Estado: o liberalismo que faz a concess�o – que ele chama de liberalismo de transa��o – e o liberalismo que ele denomina de “liberalismo irado”, que � o republicanismo. O que Faoro est� chamando de liberalismo da transa��o est� no projeto vitorioso da Independ�ncia do Rio de Janeiro: cria o Estado mon�rquico, mant�m a escravid�o. E o que ele chama de liberalismo irado � o republicanismo que est� nas conjura��es e aparece no c�rculo da Independ�ncia. A hist�ria da Independ�ncia � contada a partir do projeto vitorioso do Rio de Janeiro, que precisa dizer que essa � uma independ�ncia da maneira que foi para se consolidar uma unidade brasileira, foi criada uma mem�ria. Agora, se sairmos das margens do Ipiranga e olharmos para o Brasil, vamos encontrar uma hist�ria maravilhosa da Independ�ncia do Brasil. Vamos encontrar o projeto revolucion�rio, os ind�genas se mobilizando em diversas prov�ncias, vamos encontrar a popula��o pobre, revoltas e levantes dos escravizados e vamos encontrar o projeto republicano que come�a em 1817 e termina em 1824, com a Confedera��o do Equador. Ent�o, tem uma hist�ria muito bonita se vista fora das margens do Ipiranga e para al�m do que Faoro chama de liberalismo de transa��o e que eu estou chamando de projeto vitorioso da Independ�ncia do Brasil.
Em sua avalia��o, quais s�o as diferen�as entre os projetos de pa�s perseguidos pelo golpe de 1964 e pelo presidente Jair Bolsonaro?
H� uma diferen�a enorme. Em 1964, militares e empres�rios, e com a mobiliza��o da sociedade em favor do golpe, tinham um projeto de Brasil e se mobilizavam em torno do projeto. Hoje n�o h� projeto. O Brasil n�o tem futuro. � s� destrui��o. Essa � a diferen�a. Porque o governo Bolsonaro, a rela��o com a ditadura militar n�o � com governo dos generais, � com aquilo que est� no por�o, que a historiografia costuma chamar de linha-dura. Esse plano de destrui��o n�o � conservador. Eles at� se autodenominam conservadores, pois est�o tentando legitimar uma determinada forma de pensamento. Mas o pensamento conservador � contra pensar mudan�as, mas n�o � necessariamente antidemocr�tico. O que estamos vendo no Brasil � um projeto reacion�rio. � um movimento pol�tico que tem uma origem, o reacion�rio reage ao seu inimigo principal, que � a democracia. Reacion�rio n�o � um adjetivo. Reacionarismo � um movimento pol�tico, � uma forma de atua��o, � uma forma de pensamento, tem uma hist�ria e um inimigo, que se chama democracia. N�o h� nada na democracia que mere�a ser conservado, por essa vis�o. Voc� pode pensar que a tradi��o conservadora degradada, d� no reacionarismo. Mas ela est� degradada.
Qual parece ser o caminho para interromper este atual processo de corros�o democr�tica?
O que precisamos fazer, em minha opini�o, neste momento � uma coisa que Faoro nos ensinou: se o que est�vamos vivendo hoje � in�dito, reagir a isso, n�o. Pois faz parte da hist�ria do Brasil a capacidade de organizar a frente democr�tica em defesa da democracia e da liberdade. Ali�s, ele nos ensinou a fazer isso. Ent�o, � preciso que as for�as democr�ticas, progressistas ou conservadoras, se organizem numa frente para preservar as conquistas que tivemos at� agora; vamos preservar a democracia e a carta de direitos. Ent�o, vamos fazer uma frente em torno desses princ�pios. Buscar essas ra�zes para nos ajudar na travessia � o papel do historiador. Hannah Arendt diz isso tamb�m. Ela diz: se a tirania se instalar e der tudo errado, a liberdade est� amea�ada, mas, diria ela, temos duas possibilidades de resist�ncia, de esperan�a. Uma delas � o poeta, aquele que vai acionar a nossa imagina��o para a gente pensar o futuro. Ent�o, eu posso pensar que a liberdade � poss�vel. E o outro � o historiador, que vai dizer que a liberdade � poss�vel porque ela j� foi poss�vel. Esse � o repert�rio que tenho que voc� pode recuperar para pensar essa possibilidade. O Brasil tem tradi��o de agir dessa forma. Foi assim que terminamos com o Estado Novo e foi assim que terminamos com a ditadura. E Faoro est� no meio desse furac�o da �ltima grande frente democr�tica.
A travessia de Faoro e a mobiliza��o da sociedade nos legaram uma Constituinte democr�tica. Mas e o patrimonialismo? Ele segue, perene, o seu curso hist�rico?
A cultura patrimonialista est� s�lida e est� dentro desse projeto bolsonarista de destrui��o democr�tica e, inclusive, � anterior a ele. Ela � e um prolongamento, faz parte de uma estrutura. A novidade, portanto, n�o � o patrimonialismo, mas � como esse projeto utiliza essa cultura patrimonialista para acelerar essa desconstru��o da democracia. Uma coisa que acho que erramos l� atr�s, e talvez possamos retomar o Faoro: quando veio a redemocratiza��o, quando a sociedade atuou na redemocratiza��o, a sociedade jogou todas as fichas na democracia. Mas entendemos a democracia como as institui��es democr�ticas e a pr�tica democr�tica. Esquecemos o Tocqueville que vai dizer que a democracia � tamb�m um modo de viver em sociedade. N�o investimos numa cultura democr�tica e a� a epiderme civilizat�ria se rompe, porque temos uma sociedade fundada na escravid�o que � hier�rquica, desigual e racista. E n�s n�o investimos numa cultura democr�tica. Isso � um desafio para n�s. Provavelmente, entre os desafios que a sociedade brasileira tem hoje, se conseguirmos fazer uma frente, talvez o que tenha de fazer parte de nossa discuss�o �: vamos olhar no espelho a sociedade que temos? Por que a sociedade � assim?. Por causa da escravid�o, por causa do projeto vitorioso da Independ�ncia. E como vamos construir uma cultura democr�tica? Temos de olhar no espelho, n�o olhamos na redemocratiza��o. Esse talvez tenha sido o erro que Faoro n�o viu. N�s apostamos, temos institui��es que est�o resistindo bravamente, � a primeira vez na hist�ria do Brasil que o Supremo Tribunal Federal (STF) como institui��o resiste � tirania. Nesse aspecto apostamos bem. Mas e a cultura democr�tica?
Trecho de
“Os donos do poder”
“Em lugar da renova��o, o abra�o lusitano produ- ziu uma social enormity, segundo a qual velhos quadros e institui��es anacr�nicas frustram o florescimento do mundo virgem. Deitou-se remendo de pano novo em vestido velho, vinho novo em odres velhos, sem que o vestido se rompesse nem o odre rebentasse. O fermento contido, a rasgadura evitada gerou uma civiliza��o marcada pela veleidade, a fada que presidiu ao nascimento de certa personagem de Machado de Assis, claridade opaca, luz coada por um vidro fosco, figura vaga e transparente, trajada de n�voas, toucada de refle- xos, sem contornos, sombra que ambula entre as sombras, ser e n�o ser, ir e n�o ir, a indefini��o das formas e da vontade criadora. Cobrindo-a, sobre o esqueleto de ar, a t�nica r�gida do passado inexaur�vel, pesado, sufocante.”
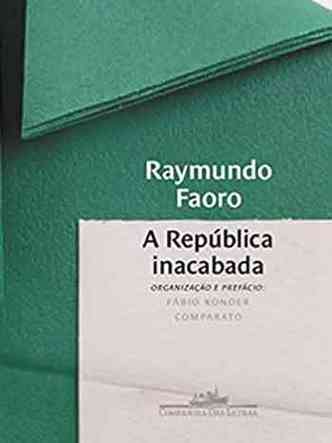
“A rep�blica inacabada”
Raymundo Faoro
Companhia das Letras
288 p�ginas
R$ 89,90 (impresso)
R$ 34,90 (digital)
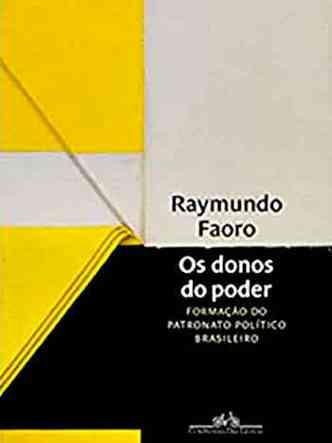
”Os donos do poder – Forma��o do patronato pol�tico brasileiro”
Raymundo Faoro
Companhia das Letras
832 p�ginas
R$ 109,90 (impresso)
R$ 44,90 (digital)
