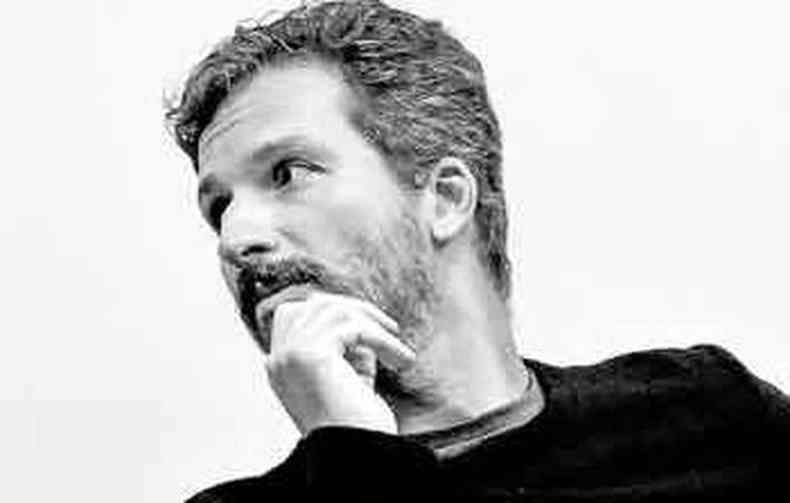
Ao pavimentar amplo acesso de vozes plurais �s m�ltiplas �goras do debate p�blico, as m�dias digitais sugeriam estar a um passo da utopia cl�ssica, inclusiva, da participa��o pol�tica direta. Mas, na dimens�o da comunica��o, o sonho da democracia direta, que eleva a cidadania plena aos canais da conversa��o p�blica, tornou-se no Brasil “um pesadelo social e ps�quico”. Muito distante da situa��o da comunica��o pura, prevalece a perversa l�gica que infla o “debate envenenado”, fadado ao “di�logo imposs�vel”, � promo��o de uma polariza��o pol�tica-afetiva. Tal natureza contaminada do “debate p�blico” agrava a conflagra��o de um pa�s que teve, principalmente ao longo da �ltima d�cada, a unidade de sua comunidade imaginada solapada em torno de seus dois principais pilares: a cultura popular e os valores democr�ticos, costurados no pacto da transi��o democr�tica, em rep�dio � ditadura militar e � militariza��o da arena pol�tica.
O argumento est� em “O di�logo poss�vel, por uma reconstru��o do debate p�blico brasileiro” (Todavia), de Francisco Bosco, ensa�sta, doutor em teoria da literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de diversas obras, entre elas “A v�tima tem sempre raz�o?, Lutas identit�rias e o novo espa�o p�blico brasileiro” (Todavia, 2017). O autor, que lan�ar� a obra em Belo Horizonte no s�bado (18/6), considera a din�mica de forma��o e funcionamento dos grupos nas redes sociais o principal fator impeditivo � constru��o das condi��es m�nimas para a conversa��o p�blica entre pessoas que pensam diferentemente.
Ao mesmo tempo em que, no �mbito afetivo, os grupos “acolhem”, exigindo lealdade de posi��es, na esfera intelectual, desconstroem qualquer margem cognitiva para a assimila��o de argumentos outros que aqueles propagados internamente. Assim, estimulam e perpetuam uma polariza��o pol�tico-afetiva nociva � constru��o de refer�ncias comuns necess�rias � no��o de uma na��o. “Em nome do prazer narc�sico de pertencimento a um grupo, existe a tend�ncia a recusar o enfrentamento honesto da realidade. Se os fen�menos da realidade amea�arem entrar em choque com a experi�ncia do prazer do grupo, a tend�ncia � sacrificar a realidade, n�o o grupo. Isso aprofunda a polariza��o tamb�m, pois a recusa ao enfrentamento da realidade torna muito dif�cil encontrar espa�os de intercess�o e de di�logo”, afirma Francisco Bosco.
Ao propor o di�logo poss�vel, o autor tem a dimens�o do desafio. Indaga: “Se a causa da presente degrada��o do debate p�blico � antes afetiva do que racional – o que pode um livro diante de um mecanismo coletivo afinal inconsciente?”. Embora considerando que o pensamento sempre tenha lutado contra inimigos irracionais – e essa � luta desigual –, o autor evoca Freud: “A voz do intelecto � baixa, mas ela n�o descansa enquanto n�o receber aten��o”. A seguir, a entrevista de Francisco Bosco ao Pensar.
Qual a g�nese da polariza��o pol�tico-afetiva no Brasil atual, discutida em “O di�logo poss�vel”, que impede a constru��o de um di�logo, de uma perspectiva comum para a sociedade brasileira?
No �mbito pol�tico, a polariza��o pol�tico-afetiva � uma degenera��o da polariza��o entre PSDB e PT, as duas autoridades pol�ticas dur�veis que governaram o pa�s por mais de 20 anos, a partir de consensos formados na redemocratiza��o e firmados na Constitui��o de 1988. Observamos viola��es do princ�pio da autoconten��o, na ret�rica da pol�tica partid�ria, que remete �s representa��es que PT e PSDB fizeram um do outro durante os seus per�odos de governo. Embora existam mais continuidades do que descontinuidades entre os dois governos do PSDB e do PT, houve discrep�ncia entre o que se passava nas pol�ticas p�blicas dos dois partidos e a representa��o que um fazia do outro. Essa representa��o caricatural, que desqualificava o outro partido, ajudou a desacreditar o sistema pol�tico brasileiro e contribuiu para o estado de anomia, de falta de regras, falta de legalidade que se instalou no pa�s. Mas houve outras etapas, que se seguem � grande ruptura com os movimentos de rua de 2013. Tem o questionamento do A�cio Neves e do PSDB das urnas face � derrota de 2014; a pr�pria Lava-Jato com a ambival�ncia irredut�vel de fazer justi�a, ao mesmo tempo em que desrespeita o pr�prio direito, o que leva tamb�m a um estado de anomia ao sistema jur�dico brasileiro. O impeachment, que tamb�m contribuiu. Esse estado de anomia precedeu o conflito que chamo de polariza��o pol�tico-afetiva, quando se perde a credibilidade no sistema jur�dico, no sistema pol�tico, no pacto social, perde-se qualquer solo comum, qualquer refer�ncia comum e a sociedade se esgar�a nessa din�mica de polariza��o em que n�o h� espa�os intermedi�rios. O que chamamos hoje de polariza��o � a supress�o de espa�os comuns poss�veis.
Como essa polariza��o se expressa em outras dimens�es da vida brasileira?
No �mbito cultural, est� relacionada � tese do Olavo de Carvalho, de que havia uma hegemonia das ideias de esquerda no debate brasileiro. No que se refere aos c�rculos da imprensa, universidade, do mercado editorial, houve, sim, hegemonia das ideias de esquerda no Brasil desde o fim da ditadura, quando a direita passou a se confundir, n�o sem raz�o, com a ditadura. Com o pacto da redemocratiza��o, a direita foi muito mal percebida. Em consequ�ncia, mesma a direita que deveria ser aceit�vel e desej�vel no debate p�blico – uma direita liberal, tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista econ�mico, que defenda ideias de livre mercado – n�o p�de se expressar com muita liberdade no espa�o p�blico. Mas eu aceito apenas parcialmente essa tese da hegemonia da esquerda, porque em outras dimens�es da vida brasileira isso n�o ocorreu. Por exemplo, nas pol�ticas econ�micas brasileiras, mesmo durante o governo Lula, tivemos liberais � frente da pol�tica econ�mica. Mas, em boa medida, na dimens�o cultural, em consequ�ncia dessa hegemonia das ideias de esquerda, criamos uma direita com raiva da pr�pria inibi��o. Uma mentalidade da direita muito represada, sobretudo conservadora, que em boa medida representa parte do povo brasileiro. Mas quando se sentiu � vontade para se expressar, o fez com a raiva de quem se sentiu calado por muito tempo. Isso tamb�m contribuiu para a polariza��o tal como vivemos hoje no Brasil.
Qual o papel das m�dias digitais no est�mulo e perpetua��o da polariza��o pol�tico-afetiva?
O espa�o p�blico tradicional no Brasil era menos democr�tico e sofria os filtros restritivos e hierarquizantes da pr�pria sociedade brasileira, que se concentrava em imprensa, mercado editorial, ve�culos de comunica��o audiovisual e universidades. Mas era mais marcado pelo que a teoria psicanal�tica chama de registro do simb�lico, o registro impessoal da argumenta��o. As redes sociais s�o um espa�o muito mais democr�tico, um convite � participa��o. Isso poderia ser algo muito bom, pois a for�a de uma democracia � a intensidade da soberania popular. Mas por que isso n�o est� acontecendo no Brasil? Porque o modo da participa��o est� envenenado, o modo da participa��o est� completamente envenenado, tanto pela l�gica de grupos quanto pela irresponsabilidade argumentativa, representativa. As redes sociais, embora muito mais democr�ticas, s�o inst�ncias diferentes e mais constitu�das pelo registro do imagin�rio, o campo do narcisismo. O mecanismo do debate � constitu�do em torno de seguidores, likes, algoritmos que favorecem a l�gica de grupos, o que tornou essa fun��o do debate p�blico muito dif�cil de acontecer. As pessoas descobriram as compensa��es narc�sicas de pertencimento ao grupo ideol�gico, pol�tico, partid�rio: fazer parte de um ambiente em que todos concordam com as mesmas verdades, o acolhimento � o grande benef�cio ps�quico do grupo. Uma das formas de voc� refor�ar os seus la�os com o grupo � criando bodes expiat�rios. A cada vez que voc� expele um membro do grupo, voc� refor�a os la�os no interior do grupo. Essa l�gica de grupos que se identificam e se formam nas redes sociais � uma das raz�es principais para a exist�ncia da polariza��o, n�o apenas no Brasil. Em nome da experi�ncia desse prazer narc�sico de pertencimento existe tend�ncia a recusar o enfrentamento honesto da realidade. Porque se os fen�menos da realidade amea�arem entrar em choque com a experi�ncia do prazer do grupo, a tend�ncia � sacrificar a realidade, e n�o o grupo. Isso aprofunda a polariza��o tamb�m, pois a recusa ao enfrentamento da realidade torna muito dif�cil encontrar espa�os de intercess�o e de di�logo. Ent�o, quando se trata do funcionamento mais amplo do debate p�blico, o custo social dessa l�gica de grupo supera muito o benef�cio individual: as pessoas ficam viciadas no prazer do acolhimento, que sacrificam a pesquisa honesta da realidade em nome dos interesses do grupo, para n�o perder os benef�cios do acolhimento. Pois qual � o custo social disso? N�o tem mais di�logo poss�vel.
Na pr�tica, como essa din�mica do grupo opera sobre as refer�ncias cognitivas dos seus membros?
A din�mica contempor�nea do debate brasileiro est� produzindo am�lgamas muito ruins. Estamos empurrando pessoas de centro-direita para o bolsonarismo ao caricatur�-las de neoliberais ou fascistas. Estamos empurrando conservadores para o bolsonarismo, porque est�o caricaturados e ficam com �dio de quem os caricatura. E por rea��o preferem se alinhar a algo extremamente degradante, que pelo menos n�o os xingue muito. Essa din�mica tem de parar. Isso vale para os dois lados. Na direita tamb�m. Ent�o, � preciso chamar as pessoas a uma responsabilidade para a linguagem que est�o usando. Se est�o usando as palavras neoliberal, liberal, comunista, socialista, fascista, direita, esquerda, � preciso que fa�am esfor�o de conhecimento do que realmente significam. Caso contr�rio, n�o est�o descrevendo a realidade brasileira corretamente, est�o usando equivocadamente essas palavras, est�o prestando um desservi�o � interpreta��o da realidade brasileira e impedindo um diagn�stico correto e os rem�dios adequados. Participar de alguma coisa n�o � apenas um direito. Com esse direito vem um dever tamb�m. Se voc� se coloca na posi��o de participar de alguma coisa, voc� tem o dever de se responsabilizar por sua participa��o. Meu livro faz esse chamado � responsabiliza��o. Podemos conversar sobre pol�tica, ent�o temos de conhecer melhor sobre pol�tica. Ent�o vamos procurar boas fontes. O livro procura ser uma delas. Isso � o que me cabe.
Para todo di�logo, para toda constru��o de unidade e sentido de na��o, � necess�ria uma base comum. Que base comum temos hoje no Brasil?
O livro faz a hist�ria da constru��o e da perda desse solo comum. O Brasil tem uma hist�ria que n�o foi capaz de criar uma refer�ncia de uni�o nacional em torno de algum marco pol�tico institucional. A hist�ria pol�tica institucional do Brasil � regida pela �gide da moderniza��o conservadora. Os grandes momentos decisivos n�o foram de ruptura sistem�tica com um passado colonial, extremamente perverso, socialmente injusto. Todos os acontecimentos pol�ticos institucionais da vida brasileira t�m sentido muito diferente para os diferentes grupos sociais do Brasil. Ent�o, a “descoberta” do Brasil para os povos ind�genas significou genoc�dio. Na Fran�a, o lugar de funda��o do sentimento de nacionalidade francesa � a Rep�blica Francesa, � o significante pol�tico. O Brasil n�o tem essa base. Mas onde o Brasil conseguiu construir isso? Na cultura popular, o Brasil conseguiu realizar feitos que a sociedade brasileira nunca conseguiu. A cultura popular, ao longo do s�culo 20, se consolidou como a nossa refer�ncia de comunidade imaginada, de na��o, de solo comum. Mas aos poucos ficou evidente que a utopia da miscigena��o cultural brasileira n�o se transpunha para a vida socioecon�mica do Brasil. E apesar de suas virtudes, a presen�a da cultura popular como elemento unificador sempre teve efeito colateral ruim, de dissolu��o dos conflitos necess�rios para se transformar uma realidade. Aos poucos, a cultura popular foi perdendo a sua capacidade de exercer o seu papel unificador, que s� sobrevive hoje em novelas e em outdoors. Mas a realidade brasileira j� n�o trabalha com a cultura popular. De um lado, h� uma direita conservadora que � contr�ria aos valores fundamentais da cultura popular. � contr�ria � mistura. Tenta manter os princ�pios hier�rquicos de uma heteronormatividade, de uma sociedade branca, das elites tradicionais. E, de outro, h� os movimentos identit�rios, que tamb�m criticam a cultura popular, pela fantasia de uni�o simb�lica quando na realidade socioecon�mica o bicho est� pegando. Ent�o perdemos a cultura popular como esse elemento, para o bem e para o mal.
E os valores democr�ticos, em sua avalia��o, integram uma refer�ncia comum para a sociedade brasileira?
A democracia era outra refer�ncia fundamental que nos dava algum solo comum. O Brasil saiu da ditadura militar com um pacto em torno da democracia como forma de governo incondicional e assim atravessamos boa parte da redemocratiza��o. Qual foi o problema? Diferentemente de outros pa�ses, o Brasil nunca conseguiu educar as For�as Armadas, que s�o o grande inimigo interno, hist�rico, na sociedade brasileira: t�m uma percep��o de seu papel que � incab�vel numa sociedade democr�tica. Consideram-se um poder moderador, uma figura constitucional absurda, que n�o existe mais, mas que na cabe�a dela persiste. E a pr�pria Constitui��o de 1988 n�o conseguiu escrever em seu texto um artigo suficientemente claro, que ajudasse a sociedade brasileira a fazer essa travessia. O artigo 142 cont�m uma ambiguidade suficiente para gerar essas interpreta��es absurdas, que os militares fazem hoje, segundo a qual s�o um poder da Rep�blica capaz de intervir na democracia, quando convocados por outro poder. Isso � um absurdo, porque as For�as Armadas n�o s�o for�a pol�tica. E, no entanto, n�o conseguimos fazer com que as For�as Armadas fiquem em seu lugar. O que permitiu a reentrada no debate pol�tico uma mentalidade militarizada, que agora amea�a a pr�pria democracia. Portanto, perdemos os dois pilares fundamentais que nos forneciam um solo comum: a cultura popular e a incondicionalidade da democracia.
Ser� que algum dia o Brasil teve esse compartilhamento inequ�voco de valores democr�ticos e da cultura popular ou ser� que, exatamente por n�o t�-lo, esses grupos est�o mais � vontade para se expressar e, hoje, dizer o que dizem contra o sistema democr�tico?
O livro faz a hist�ria de diversas temporalidades. � �bvio que o Brasil entra na redemocratiza��o com um passivo gigantesco. A hist�ria do Brasil � tal que nunca fomos capazes de fazer uma verdadeira ruptura com nosso passado colonial. O que nos fez entrar em nossa hist�ria independente e, em seguida, republicana, ainda como um pa�s extremamente desigual, com um passivo gigantesco em rela��o � popula��o negra. E entramos na redemocratiza��o com esse passivo enorme. Ent�o, nunca tivemos evidentemente solos comuns est�veis. O m�ximo que n�s conseguimos fazer, ao longo da hist�ria pol�tico-social do Brasil, foram determinados per�odos em que as elites pol�ticas, a partir de press�o popular, n�o governaram exclusivamente para si. A partir dos anos 30, conseguimos um governo que favorece as camadas populares; depois no interregno 46-64, tivemos o governo Juscelino; depois, na redemocratiza��o, governos do PSDB e do PT. S�o momentos em que as elites pol�ticas n�o governam s� para si, o Brasil consegue fazer avan�os institucionais, econ�micos, sociais. S� que os avan�os nunca foram suficientes para resolver os problemas estruturais da sociedade brasileira. Mas ao mesmo tempo n�o podemos ignorar as conquistas. O que conseguimos em termos de cultura popular � um trunfo civilizat�rio no Brasil, pelo qual o pa�s � admirado no mundo inteiro. Ou, a esta altura, era admirado. � algo que a Europa esclarecida sempre invejou no Brasil. Ent�o isso faz parte da realidade brasileira tamb�m. Nunca tivemos no Brasil refer�ncias, solos comuns est�veis, mas tivemos constru��es provis�rias tanto no �mbito cultural quanto no �mbito pol�tico institucional. Perdemos as duas.
A participa��o da religi�o na pol�tica contribui para o apartamento entre grupos, para a intoler�ncia?
O Brasil n�o passou por um processo de seculariza��o, de defla��o do esp�rito religioso. Qual � o problema da infla��o do esp�rito religioso numa sociedade? Do ponto de vista privado, a religi�o n�o � nenhum problema, pelo contr�rio, traz muitos benef�cios, traz acolhimento metaf�sico, traz pertencimento comunit�rio, o que � muito importante, sobretudo em sociedades democraticamente fragilizadas, em que o Estado n�o � muito presente e as pessoas sofrem preconceito racial. Onde se torna um problema? Quando se mistura com processos legislativos. Aqui h� tens�o muito dif�cil de desatar, quando est� presente a mentalidade monote�sta muito forte, pois h� monote�stas que t�m no monote�smo o centro da espinha dorsal do seu eu. Essas pessoas acreditam num fundamento positivo do mundo, que � Deus, e no desdobramento desse fundamento, que seriam as leis inscritas em pedra. Cl�usulas p�treas da moralidade humana universal. Ent�o, para essas pessoas, uma certa moralidade tradicional � absolutamente inviol�vel e ela � heteronormativa, extremamente restritiva do ponto de vista das varia��es, que deveriam ser plenamente aceit�veis e cobertas por direitos dentro de uma sociedade de democracia liberal. Ent�o, a sociedade brasileira tem hoje no centro de seu sistema pol�tico que impede, tenta barrar a conquista de plenos direitos civis e pol�ticos por parte de minorias. Esse � um grande problema do Brasil.
Nesse cen�rio, como construir, em sua avalia��o, as condi��es b�sicas para o di�logo no Brasil?
N�o temos essas condi��es, mas precisamos cri�-las. Isso me inspirou a escrever o livro. Sabemos que a vida racional pode pouco diante da vida afetiva, imagin�ria. O que comanda o mundo s�o puls�es inconscientes, os afetos, as emo��es. Mas o que o intelectual p�blico pode fazer? Argumentar.
O que, em nossa hist�ria, podemos evocar para reconstruir o campo do di�logo, a base de um novo pacto democr�tico?
A l�gica dos grupos tende a estabelecer no debate a for�a centr�fuga que empurra todas as posi��es, umas contra as outras. N�o h� nada que esteja ao meio para fazer esse solo comum. O meu livro tenta mostrar que a hist�ria pol�tica moderna tem muitos pontos de contato. Essa � a quest�o fundamental. Quando voc� estuda a hist�ria da direita e da esquerda, voc� v� que a democracia � filha do liberalismo, que nasce mais ligada a um pensamento de direita, mas em sua hist�ria aprende e se aproxima da esquerda tamb�m, ao ponto de no s�culo 20 voc� ter toda uma tradi��o de liberais de esquerda ou do liberal socialismo. Como John Raws ou Norberto Bobbio. Ent�o, o objetivo do livro � tentar mostrar que existem, sim, muitos pontos de contato entre as duas tradi��es presentes no debate pol�tico, consideradas incompat�veis.
Trecho
“Seja como for, o fato � que, se o Brasil perdeu o fundamento de sua comunidade imaginada, que era a cultura popular, perdeu tamb�m a seguran�a quanto �s condi��es elementares de funcionamento institucional da democracia, ao ter no Ex�rcito, no contexto de retorno de um imagin�rio social militarizado (ainda que por parte minorit�ria da sociedade), um aliado ideol�gico e pol�tico do governo, benefici�rio direto de suas pol�ticas. Nos �ltimos anos, portanto, o pa�s viu os seus dois sustent�culos principais serem abalados: a comunidade imaginada e o pacto democr�tico.”
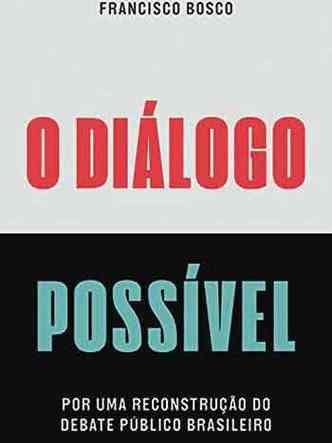
“O di�logo poss�vel: por uma reconstru��o do debate p�blico brasileiro”
• Francisco Bosco
• Todavia Editora
• 416 p�ginas
• R$ 89,90 (impresso)
• Lan�amento em Belo Horizonte: Outlet de Livro (Rua Para�ba, 1.419, Savassi), 18 de junho, das 11h �s 13h, em conversa com o advogado e jornalista Rog�rio Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras
