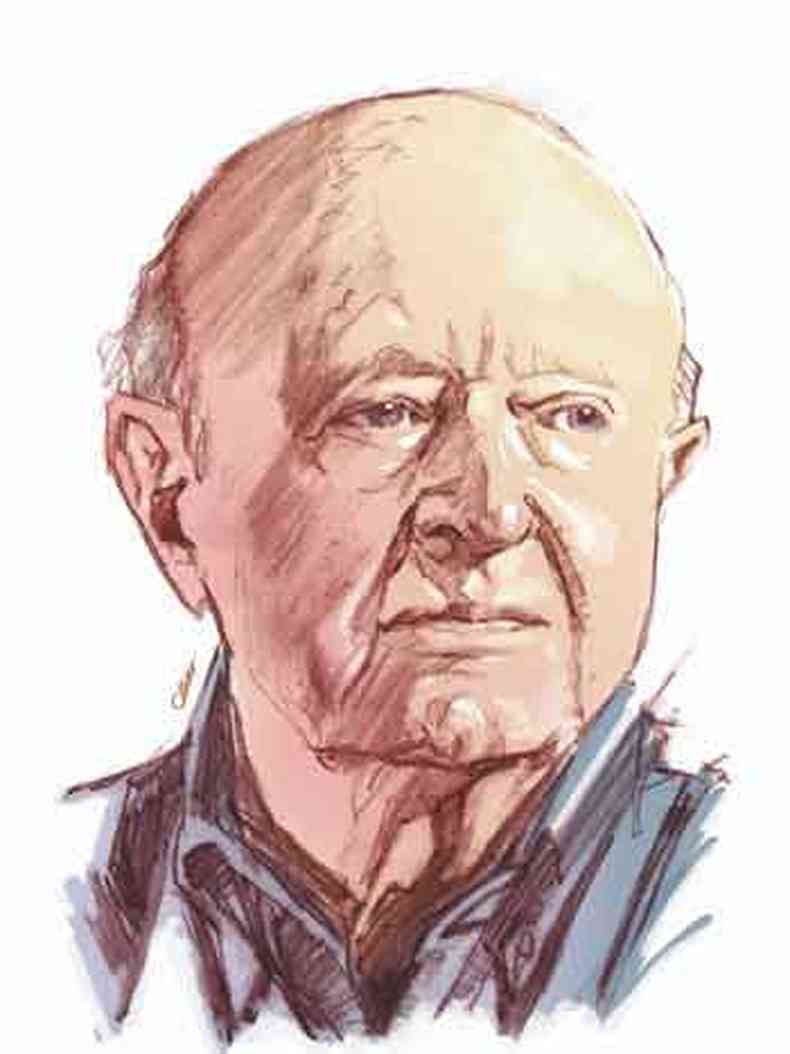
Das Minas da terra para o mundo
Rog´┐Żrio Faria Tavares
Especial para o EM
Na longa entrevista biogr´┐Żfica que fiz com Jos´┐Ż Murilo de Carvalho, em julho de 2016, na sede do Instituto Hist´┐Żrico e Geogr´┐Żfico Brasileiro (IHGB), ele se deteve longamente nas origens de sua fam´┐Żlia. Relembrando que os Ribeiros maternos e os Carvalhos paternos vieram para Minas Gerais no bojo da forte migra´┐Ż´┐Żo dos minhotos para o estado, ainda no s´┐Żculo 18, ele creditou a essa “onda” o poder de formar uma “segunda Minas”, a que chamou de “Minas da terra', suced´┐Żnea das 'Minas do ouro”. Essa nova configura´┐Ż´┐Żo gerou uma sociedade est´┐Żvel, baseada na agricultura de consumo (abastecia at´┐Ż o Rio de Janeiro), de valores religiosos e morais fortes e de fam´┐Żlias s´┐Żlidas, nada tendo que ver com o per´┐Żodo anterior, marcado pela “tradi´┐Ż´┐Żo de rebeldia”. Envolvida no cultivo de cereais e na cria´┐Ż´┐Żo de gado leiteiro, sua linhagem se fixou no Campo das Vertentes, regi´┐Żo de que S´┐Żo Jo´┐Żo del-Rei e Barbacena s´┐Żo as principais cidades. Nascido no meio rural, Jos´┐Ż Murilo n´┐Żo fez o curso prim´┐Żrio. Alfabetizado pelo pai, viveu na fazenda at´┐Ż os 10anos, quando iniciou p´┐Żriplo por tr´┐Żs internatos franciscanos: o primeiro em Santos Dumont, o segundo perto de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e o ´┐Żltimo em Divin´┐Żpolis.
Leia: Jos´┐Ż Murilo de Carvalho: o homem que nos ajudou a decifrar o Brasil
Leia: Conhe´┐Ża os livros que tornaram Jos´┐Ż Murilo de Carvalho uma refer´┐Żncia
Seu pr´┐Żximo passo foi tentar o vestibular para economia. Reprovado por n´┐Żo resolver uma equa´┐Ż´┐Żo matem´┐Żtica, prestou novo concurso para sociologia e pol´┐Żtica, alcan´┐Żando a segunda coloca´┐Ż´┐Żo. Parte de "Contribui´┐Ż´┐Żes para a hist´┐Żria do IHGB", livro que lancei em 2018, o depoimento de Jos´┐Ż Murilo tamb´┐Żm incluiu passagens sobre sua experi´┐Żncia universit´┐Żria nos turbulentos anos do Golpe de 64, al´┐Żm de reflex´┐Żes sobre sua primeira pesquisa, de 1966, que resultou no texto publicado pelo professor Orlando de Carvalho na Revista Brasileira de Estudos Pol´┐Żticos: "Barbacena: a fam´┐Żlia, a pol´┐Żtica e uma hip´┐Żtese".
Em fina an´┐Żlise sobre aquele momento hist´┐Żrico, n´┐Żo se esqueceu de mencionar sua atividade como membro da A´┐Ż´┐Żo Popular, quando, com o apoio da Igreja, percorreu o interior mineiro fomentando a forma´┐Ż´┐Żo de sindicatos rurais. Respons´┐Żveis por consolidar sua voca´┐Ż´┐Żo para a vida acad´┐Żmica, o mestrado e o doutorado em Stanford abriram caminhos para o intelectual que lecionou por d´┐Żcadas no Rio de Janeiro e nas melhores universidades do planeta, e escreveu artigos e livros fundamentais para a compreens´┐Żo da hist´┐Żria brasileira. Seu legado ´┐Ż incontorn´┐Żvel e perene. De sua personalidade refinada, generosa e gentil ficar´┐Ż uma saudade terna e eterna.
A seguir, leia alguns trechos do depoimento de Jos´┐Ż Murilo de Carvalho.
Rog´┐Żrio Faria Tavares ´┐Ż jornalista, doutor em literatura e presidente em´┐Żrito da Academia Mineira de Letras
Origem da fam´┐Żlia
"A minha fam´┐Żlia ocupa a regi´┐Żo de Minas Gerais que se chamava Campos do Mantiqueira. Agora ´┐Ż a cidade de S´┐Żo Jo´┐Żo del-Rei, Barbacena... aquele (miolo). A fam´┐Żlia, tanto os Carvalhos quanto os Ribeiros, que tamb´┐Żm ´┐Ż de minha m´┐Że, fazem parte de uma forte migra´┐Ż´┐Żo portuguesa para Minas, j´┐Ż no s´┐Żculo 18. Na ´┐Żpoca j´┐Ż existia a vila – em dire´┐Ż´┐Żo ao ouro, n´┐Ż? Mas foram suficientemente espertos pra perceber que havia uma outra maneira de fazer, que n´┐Żo era minerar, mas alimentar os mineiros. Ent´┐Żo, come´┐Żaram a se expandir em torno de S´┐Żo Jo´┐Żo del-Rei e ocuparam ali uma regi´┐Żo vasta, com dezenas de fazendas de cereais e depois de gado leiteiro. Era uma segunda Minas que se formava, ao lado da Minas do ouro, o que eu chamei da 'Minas da terra', que come´┐Żou a se formar ali, e que depois j´┐Ż se tornou predominante com a queda da produ´┐Ż´┐Żo do ouro, j´┐Ż final do s´┐Żculo 19, in´┐Żcio do s´┐Żculo 20. Essa Minas da terra se expandiu para o Sul de Minas tamb´┐Żm, Zona da Mata e toda essa regi´┐Żo que passou a abastecer o Rio de Janeiro, quando a corte veio (de Portugal). Ent´┐Żo, em propriedades de terra, tamanho m´┐Żdio das terras, havia, obviamente, escravid´┐Żo. Mas, e tem dados sobre isso, n´┐Żo se comparava com a escravid´┐Żo do a´┐Ż´┐Żcar no Nordeste e nem ´┐Ż escravid´┐Żo do caf´┐Ż. Eram plant´┐Żis pequenos de escravos. Quem tinha trinta escravos era muito, a maioria tinha menos. Porque era essa agricultura de consumo: cereais em geral e gado leiteiro."
Longe da tradi´┐Ż´┐Żo
"Essa Minas (da fam´┐Żlia) ´┐Ż marcada por certos tra´┐Żos que ´┐Żs vezes s´┐Żo incorporados. Outro que se chama mineiridade – eu n´┐Żo gosto muito da express´┐Żo –, mas que n´┐Żo tem nada a ver com a tradi´┐Ż´┐Żo mineira do s´┐Żculo 18. Que era essa uma tradi´┐Ż´┐Żo rebelde, revolucion´┐Żria e tudo. Quer dizer, n´┐Żo havia praticamente fam´┐Żlia naquela regi´┐Żo. Essa nova, n´┐Żo. ´┐Ż est´┐Żvel, com fam´┐Żlias s´┐Żlidas, com valores religiosos muitos fortes... E um tra´┐Żo que ´┐Ż muito interessante, que ´┐Ż extrema honestidade nas negocia´┐Ż´┐Żes. A hist´┐Żria do fio da barba (bigode) como garantia do neg´┐Żcio."
Da fazenda ao internato
"At´┐Ż os dez anos de idade eu fiquei na fazenda. N´┐Żo fiz..., nunca fiz o ensino prim´┐Żrio, nunca fui ´┐Ż escola. O meu pai, que era dentista, nos ensinou a ler e a escrever l´┐Ż no meio das vacas. Fomos aprendendo dessa maneira, at´┐Ż que nos mandaram para o internato. A´┐Ż foi outra hist´┐Żria e come´┐Ża outra vida. Fiz o internato em Santos Dumont. Era um semin´┐Żrio franciscano. Quando me deixaram l´┐Ż com o meu irm´┐Żo mais velho, meu tio nos levou e foi embora. N´┐Żs choramos uma semana. Fiquei bastante tempo, cheguei a ir para o Rio Grande do Sul, no mesmo esquema, morei l´┐Ż uns tr´┐Żs anos, perto de Garibaldi, depois para Divin´┐Żpolis e depois sa´┐Ż. E fiz vestibular para a Faculdade de Ci´┐Żncias Econ´┐Żmicas da UFMG."
Chegada ´┐Ż UFMG
"Visitei a Faculdade de Ci´┐Żncias Econ´┐Żmicas, que era modelo, certamente, em termos de funcionamento. Nossas universidades, nossas faculdades em Belo Horizonte eram modelo. O dono dela era um d´┐Żspota esclarecido... (Ivon) de Magalh´┐Żes, que era um d´┐Żspota esclarecido, a faculdade funcionava uma beleza, n´┐Ż? Os funcion´┐Żrios de uniforme, alunos chegavam na hora, todos chegavam na hora, havia papel higi´┐Żnico nos banheiros... Tentei o vestibular para economia, primeira tentativa. Mas eu tinha feito equivalente ao cl´┐Żssico. Ent´┐Żo havia prova oral. E quando o professor mandou resolver uma equa´┐Ż´┐Żo de segundo grau na prova oral, eu naufraguei. E o professor foi at´┐Ż gentil, ele falou: 'Olha, assim n´┐Żo d´┐Ż'. A´┐Ż, logo a seguir, houve segunda chamada, a´┐Ż eu fiz para sociologia e pol´┐Żtica. A´┐Ż eu tirei de letra. Ganhei uma bolsa e, com isso, eu pude terminar o curso e fazer como aluno bolsista. E foi como obriga´┐Ż´┐Żo dessa bolsa que eu escrevi um trabalhinho ('Barbacena antes de Barbacena', publicado em 1966). Eu tenho saudades desse tempo. No Brasil, foi a ´┐Żnica escola que realmente me deixou saudades. Porque realmente funcionava bem. Al´┐Żm disso, eram tempos agitados, n´┐Ż? Tempo agitados. Eu entrei l´┐Ż em 1961 e formei no final de 1965. Uma agita´┐Ż´┐Żo muito grande estudantil, os grupos de esquerda e de direita se enfrentando, mas tamb´┐Żm a esquerda contra a esquerda. Me formei em 65, e logo aconteceu o qu´┐Ż? Como consequ´┐Żncia da revolu´┐Ż´┐Żo cubana, os Estados Unidos passaram a dar mais aten´┐Ż´┐Żo ao Brasil. E a Funda´┐Ż´┐Żo Ford, que n´┐Żo era do governo, era coisa particular, tinha decidido, dar bolsas de estudos para brasileiros. Fui selecionado para fazer o doutorado na Universidade de Stanford. E l´┐Ż fui eu, do Curral da Santa Cruz, fazenda, para Stanford (onde fez mestrado e doutorado em ci´┐Żncia pol´┐Żtica)."
Londres e Princeton
"Foi em Londres (no p´┐Żs-doutorado) que passei realmente a estudar a hist´┐Żria da Am´┐Żrica Latina. L´┐Ż, sim, a´┐Ż eu comecei a fazer uma guinada da circunst´┐Żncia pol´┐Żtica para a hist´┐Żria. Mas foi uma coisa curta. O que me marcou realmente foi a experi´┐Żncia de um ano como visitante no Instituto de Estudos Avan´┐Żados de Princeton. ´┐Ż um instituto com um grupo pequeno de pesquisadores, que anualmente chama vinte, trinta pessoas no mundo inteiro. Fiquei absolutamente encantado com essa experi´┐Żncia. Um historiador que ficou muito conhecido, Robert Darnton, do famoso texto 'O massacre dos gatos', apresentou l´┐Ż a primeira vers´┐Żo. Clifford Geertz, o antrop´┐Żlogo, que ficou depois tamb´┐Żm muito conhecido, influente, estava l´┐Ż, assim como Albert Hirschman, economista dedicado ´┐Ż Am´┐Żrica Latina. Colegas indianos, holandeses, franceses... Convivi um ano com essas pessoas. Abriu a cabe´┐Ża al´┐Żm da sociologia e da pol´┐Żtica, para a hist´┐Żria, para a hist´┐Żria das artes, para uma s´┐Żrie de coisas."
De volta ao Brasil
"Voltei ao Brasil no finalzinho de 1968, logo depois do golpe no golpe. J´┐Ż tinha sido inaugurado o Departamento de Ci´┐Żncia Pol´┐Żtica (da UFMG) como consequ´┐Żncia dessa doa´┐Ż´┐Żo da Funda´┐Ż´┐Żo Ford Nessa disputa l´┐Ż, acabou ficando na Faculdade de Filosofia (e Ci´┐Żncias Humanas da UFMG, Fafich), n´┐Żo na Faculdade de Ci´┐Żncias Econ´┐Żmicas, porque o pessoal da Ci´┐Żncias Econ´┐Żmicas expulsou... Eles expulsaram o curso de sociologia e pol´┐Żtica de l´┐Ż, porque os alunos criavam muito problema. Ent´┐Żo o departamento foi localizado na Fafich. Funcionou um tempo na reitoria, depois foi pra Fafich ali na Rua Carangola. Voc´┐Ż pode imaginar o choque que eu senti. Porque (a faculdade de) Ci´┐Żncias Econ´┐Żmicas era muito organizada, a Fafich realmente nem tanto, n´┐Ż? Nem tanto. Al´┐Żm disso, eram os anos do AI-5. E foi um choque enorme. Enorme. Porque era o oposto inclusive do que eu tinha vivido na Ci´┐Żncias Econ´┐Żmicas. Os alunos n´┐Żo chegavam, ou chegavam e sa´┐Żam na hora que queriam, ficavam conversando em sala de aula... E a parte pol´┐Żtica. Que quando eu estava na Ci´┐Żncias Econ´┐Żmicas, aluno que queria ter lideran´┐Ża estudantil, ele tinha que ser o primeiro aluno na sala de aula. Sen´┐Żo, ele n´┐Żo tinha autoridade. Quando eu cheguei l´┐Ż na Faculdade de Filosofia, era o oposto: aluno que queria ter lideran´┐Ża estudantil n´┐Żo podia... n´┐Żo convinha nem ir ´┐Ż sala de aula. Porque ir ´┐Ż sala de aula significava que ele estava ‘assim’ com os homens. Quer dizer, ele era conivente com as pessoas que representavam o poder, alguma coisa. Ent´┐Żo, era um inferno para trabalhar. Foi realmente uma experi´┐Żncia muito dif´┐Żcil."
Estudo do Imp´┐Żrio
"Fui para Stanford j´┐Ż com um projeto de dar continuidade ao que tinha come´┐Żado a fazer em Minas, que ´┐Ż o estudo de poder local. Mas mudei totalmente o meu tema. Decidi estudar a elite pol´┐Żtica do Imp´┐Żrio. E, com isso, eu ficava dependendo muito de atividades no Rio, que tinha a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional... Ent´┐Żo resolvi deixar a UFMG e ficar no Rio em uma institui´┐Ż´┐Żo particular, que era o Iuperj (Instituto Universit´┐Żrio de Pesquisas do Rio de Janeiro). A´┐Ż continuei dando mais ou menos as mesmas aulas. E a´┐Ż era uma institui´┐Ż´┐Żo que funcionava no modelo americano, s´┐Ż tinha p´┐Żs-gradua´┐Ż´┐Żo. Ent´┐Żo n´┐Żo tinha gradua´┐Ż´┐Żo e quase todo mundo era formado nos Estados Unidos. E o Iuperj teve um impacto enorme na ´┐Żrea de sociologia e ci´┐Żncia pol´┐Żtica, sobretudo. Terminei a tese 'A constru´┐Ż´┐Żo da ordem', que saiu em dois volumes. A segunda parte, 'Teatro de sombras', saiu depois. E somente depois ´┐Ż que os dois livros foram fundidos em um s´┐Ż."
Do Imp´┐Żrio ´┐Ż Rep´┐Żblica
"Uma ex-aluna do Iuperj estava dirigindo o Centro de Pesquisa da Casa Rui Barbosa, a´┐Ż ela me convidou para l´┐Ż. Estava ali o arquivo do Rui Barbosa, que ´┐Ż muito grande, e tem uma parte razo´┐Żvel do per´┐Żodo imperial, mas o forte do arquivo ´┐Ż a atua´┐Ż´┐Żo dele na Rep´┐Żblica, a partir do ministro da Fazenda, ministro da Rep´┐Żblica, enorme. Ent´┐Żo, cronologicamente, fui seguindo e passei a estudar a Rep´┐Żblica. E dessas pesquisas sa´┐Żram dois livros: ‘Os bestializados’ e ‘Forma´┐Ż´┐Żo das almas’. Fiz tamb´┐Żm a reda´┐Ż´┐Żo de um outro ensaio, que era o 'Cidadania no Brasil'."
Perplexidade com o golpe militar
"Quando veio (o golpe militar de) 1964, a sensa´┐Ż´┐Żo que eu tive foi de perplexidade. Eu me lembro de a gente andar por Belo Horizonte, no dia 1º de abril, perplexo. N´┐Żo ´┐Ż que as pessoas n´┐Żo esperassem o golpe. Havia uma expectativa. Expectativa havia. Pessoas que falavam na viabilidade do golpe. Mas ningu´┐Żm previu o tipo de golpe que foi dado. Isso ´┐Ż... Os militares tomaram o poder e ficaram no poder. Isso era in´┐Żdito no Brasil. Em 1930 n´┐Żo foi assim, em 1937 n´┐Żo foi assim, em 1945 n´┐Żo foi assim, em 1954 n´┐Żo foi assim. A´┐Ż comecei a me perguntar: 'Mas por que ningu´┐Żm previu isso?' Como aluno eu comecei (a pensar): ‘N´┐Żo, ent´┐Żo eu vou ver que tipo de gente ´┐Ż essa, o que aconteceu no Ex´┐Żrcito que fez eles mudassem de posi´┐Ż´┐Żo em rela´┐Ż´┐Żo ´┐Ż interven´┐Ż´┐Żo pol´┐Żtica’. E a´┐Ż comecei a estudar os militares. O Boris Fausto tamb´┐Żm havia me pedido um estudo sobre militares. No CPDOC (Centro de Pesquisa e Documenta´┐Ż´┐Żo de Hist´┐Żria Contempor´┐Żnea do Brasil) eu expandi essa pesquisa para o per´┐Żodo de 1930 e um pouquinho... pelo menos at´┐Ż 1945, expandi muito essa pesquisa, que deu um trabalho sobre os militares nesse per´┐Żodo, e que depois deu um livro ('For´┐Żas armadas e pol´┐Żtica no Brasil')."
Estudo da elite
"Resolvi realmente enfrentar esse tema (estudo das elites) porque me atra´┐Ża, mas era politicamente ingrato. Naquele momento, j´┐Ż durante a ditadura, estudar a elite era uma coisa que n´┐Żo ca´┐Ża bem. Nem hoje. O que estava estudado eram personagens, biografias, pessoas. Mas n´┐Żo a elite como um coletivo. Resolvi fazer isso em duas partes da tese. Uma realmente ´┐Ż o papel dessa elite e a outra parte ´┐Ż a pol´┐Żtica desenvolvida, a pol´┐Żtica imperial. Acho que pela primeira vez eu botei isso tamb´┐Żm em n´┐Żmeros. Que a´┐Ż realmente vinha da minha forma´┐Ż´┐Żo de ci´┐Żncias sociais. E uma hip´┐Żtese central que dirigia. Ent´┐Żo, voc´┐Ż pode dizer que realmente ´┐Ż uma tese que ´┐Ż tanto hist´┐Żria, mas ´┐Ż de hist´┐Żria pol´┐Żtica. Porque o gancho da coisa ´┐Ż uma teoria: o papel da elite em determinado tipo de pa´┐Żs. Estudei at´┐Ż a Turquia pra ver esse tipo de impacto. A pesquisa foi hist´┐Żrica, mas tamb´┐Żm com esse vi´┐Żs um pouco estat´┐Żstico. Tanto que tem muita tabela. Historiador n´┐Żo fazia tabela. Nem sabia fazer. At´┐Ż hoje, a maioria n´┐Żo sabe fazer."
Elite social, elite pol´┐Żtica
"A elite definida como eu defini: ministros, deputados, senadores, conselheiros de Estado. N´┐Żo elite social, elite pol´┐Żtica. E as duas nem sempre coincidiam. Esse inclusive ´┐Ż um grande ponto. At´┐Ż que ponto elas (as duas elites) coincidem ou n´┐Żo coincidem? Cheguei ´┐Żs conclus´┐Żes e descobri esse impacto tremendo de Coimbra (escola portuguesa). At´┐Ż metade do s´┐Żculo 20, boa parte da elite tinha sido ainda formada em Coimbra. At´┐Ż a forma´┐Ż´┐Żo da cria´┐Ż´┐Żo das escolas (de direito), em 1928, que ´┐Ż s´┐Ż a partir de 1928, 1929, 1930, a partir do in´┐Żcio... j´┐Ż na Reg´┐Żncia que este pessoal de S´┐Żo Paulo come´┐Żou a entrar na pol´┐Żtica, n´┐Ż? Alguns como o pr´┐Żprio Visconde de Uruguai, que come´┐Żou em Coimbra e terminou em S´┐Żo Paulo. As evid´┐Żncias s´┐Żo bastante fortes nessa dire´┐Ż´┐Żo. E a segunda parte ´┐Ż a pol´┐Żtica. A´┐Ż entra a pol´┐Żtica, (pesa) a aboli´┐Ż´┐Żo, problema do or´┐Żamento imperial, etc. Eu mostro realmente que embora, n´┐Żo h´┐Ż d´┐Żvida, a economia fosse dominada pela escravid´┐Żo, latif´┐Żndio, com´┐Żrcio, etc., mas na elite, nas decis´┐Żes, havia uma mistura grande. Que havia realmente um grupo de burocratas, sobretudo, o pessoal em torno do imperador, que essas posi´┐Ż´┐Żes se chocavam. Ao ponto que o Ventre Livre foi uma batalha extraordin´┐Żria no Congresso, talvez a maior batalha no Congresso brasileiro, em termos inclusive de dura´┐Ż´┐Żo e intensidade dos debates, manifesto dos populares brasileiros, etc. Foi um debate interessante, em que, no final, claramente a vontade do imperador, via (Visconde) Rio Branco, acabou derrotando os interesses de suas elites."
De baixo para cima
"(Com os livros 'Os bestializados' e 'A forma´┐Ż´┐Żo das almas') Eu inverti um pouco a postura, em vez de olhar de cima pra baixo, eu passei a olhar de baixo pra cima. Ou pelo menos como ´┐Ż que os de baixo se relacionavam com os de cima. Isso est´┐Ż, sobretudo, em 'Os bestializados'. Com a Rep´┐Żblica foi proclamada essa rela´┐Ż´┐Żo entre povo e pol´┐Żtica... Nesta pesquisa, eu, de novo, para surpresa minha, encontrei os positivistas como atores pol´┐Żticos. Na faculdade, positivismo era uma palavra feia. Era o oposto da dial´┐Żtica. Ent´┐Żo, dial´┐Żtica era bom, positivismo era ruim. Mas n´┐Żo encontrei positivismo como doutrina, mas encontrei com os positivistas. E os positivistas s´┐Żo ortodoxos, n´┐Ż? E isso me abriu muito a cabe´┐Ża. E a´┐Ż j´┐Ż com a influ´┐Żncia de Princeton, da ´┐Żrea das artes, etc., para o lado, digamos, efetivo da pol´┐Żtica. Que o Comte p´┐Żs-Clotilde levou, que... Comte da Religi´┐Żo da Humanidade, n´┐Żo o Comte do Curso de Filosofia Positiva, mas o Sistema de Pol´┐Żtica Positiva, ele passou a valorizar muito o lado afetivo na pol´┐Żtica. Da´┐Ż que ele colocou a mulher como o centro de tudo, a mulher como s´┐Żmbolo da humanidade, a humanidade como mulher. Quer dizer, fez uma religi´┐Żo laica. Tirou a Nossa Senhora, cortou a transcend´┐Żncia e botou a imagem, que ´┐Ż a imagem de Clotilde como a deusa, a deusa da humanidade. Ent´┐Żo, a humanidade se transformou em deusa. E eles levavam isso a extremos. Tanto que, por exemplo, em enterros, eles n´┐Żo falavam "a deusa", eles falavam "adeusa". A incorpora´┐Ż´┐Żo do proletariado, a valoriza´┐Ż´┐Żo da mulher, a prote´┐Ż´┐Żo aos ´┐Żndios, o pacifismo... Eles fizeram quase tudo certo, n´┐Ż? Certo, do ponto de vista de hoje. Com algumas exce´┐Ż´┐Żes... Porque o positivismo tinha essa ideia da ditadura republicana. N´┐Żo ´┐Ż a ditadura no sentido de hoje, mas era um Executivo muito forte. Isso a´┐Ż foi uma heran´┐Ża deles que talvez o Get´┐Żlio (Vargas) tenha juntado com a tradi´┐Ż´┐Żo ga´┐Żcha dos caudilhos e talvez tenha afetado. Mas afetou tamb´┐Żm a pol´┐Żtica trabalhista. Enfim. Na minha vis´┐Żo, o que h´┐Ż de mais interessante tem um pouco de m´┐Żtodo tamb´┐Żm. A imagem era usada sempre como ilustra´┐Ż´┐Żo do texto. Nisso eu aprendi, neste texto, a usar a imagem com o texto. Tem Monumento ao Floriano (Peixoto, no Centro do Rio de Janeiro). Voc´┐Ż n´┐Żo bota l´┐Ż a imagem... Voc´┐Ż pega o monumento e l´┐Ż. Inclusive o Movimento Positivista usava muito para isso, porque eram todos did´┐Żticos. Isso foi realmente uma proposta dos positivistas, que, como diz um historiador portugu´┐Żs, o (Fernando) Catroga, que tamb´┐Żm, sem que eu soubesse, trabalhou muito nisso. Porque ele trabalhava sob o ponto de vista do afeto na pol´┐Żtica. Quer dizer, a pol´┐Żtica n´┐Żo apenas como convencimento racional, mas como mobiliza´┐Ż´┐Żo do sentimento. E produ´┐Ż´┐Żo do imagin´┐Żrio, que voc´┐Ż faz pelas artes. Eles trabalhavam, sobretudo, pintura, escultura... Pintura, escultura e arquitetura e a cria´┐Ż´┐Żo de mitos, de her´┐Żis – Tiradentes – e de s´┐Żmbolos como a bandeira. A ideia de valoriza´┐Ż´┐Żo da ideia de p´┐Żtria e a ideia de Rep´┐Żblica como dedica´┐Ż´┐Żo ao bem p´┐Żblico. Eu costumo dizer que eles eram ETs ao valorizar o servi´┐Żo p´┐Żblico. Voc´┐Ż tem que se dedicar ao coletivo: ´┐Ż humanidade, ´┐Ż p´┐Żtria e deixar em segundo lugar o seu interesse pessoal. Quer dizer, isso hoje no Brasil ´┐Ż um espanto, quem vai pensar dessa maneira?"
Vis´┐Żo da cidadania
"O meu livro ‘ A cidadania no Brasil: o longo caminho’ ´┐Ż uma panor´┐Żmica e foi feito por encomenda de um col´┐Żgio do M´┐Żxico. Foi publicado em espanhol em primeiro lugar. Parte de certos conceitos, dos tipos de direitos, civis, pol´┐Żticos e sociais, e verifica como isso se verificou ao longo da hist´┐Żria do Brasil. N´┐Żo ´┐Ż um texto acad´┐Żmico. Praticamente n´┐Żo tem notas de p´┐Ż de p´┐Żgina. ´┐Ż para um p´┐Żblico amplo. A ideia realmente um pouco era essa: como, na descontinuidade, que ´┐Ż a marca da hist´┐Żria, ´┐Ż poss´┐Żvel ver certos tra´┐Żos de continuidade, mas tra´┐Żos que s´┐Żo constantes e que sofrem altos e baixos. Depois saiu a edi´┐Ż´┐Żo em portugu´┐Żs e, pelo que eu ou´┐Żo das editoras, esse livro ´┐Ż usado bastante em curso de gradua´┐Ż´┐Żo. Inclusive nas faculdades de direito."
Finalidade da hist´┐Żria
"Eu acho muito importante para a hist´┐Żria alcan´┐Żar um p´┐Żblico maior. ´┐Ż uma discuss´┐Żo que eu tenho com os colegas, h´┐Ż uma certa m´┐Ż vontade de alguns. Todo mundo hoje quer o monop´┐Żlio da hist´┐Żria para quem tem diploma de curso de hist´┐Żria. Nesse processo cria-se quase um dialeto do historiador. E com todo esse aparato de (anota´┐Ż´┐Żes), etc., realmente torna a leitura da maioria desses textos um tanto dif´┐Żcil mesmo, um tanto penosa. (Principalmente), o contexto que vai para as revistas acad´┐Żmicas n´┐Żo atinge um p´┐Żblico geral. Eu acho que se pode fazer as duas coisas."
Livro de depoimentos
As declara´┐Ż´┐Żes de Jos´┐Ż Murilo de Carvalho que o Pensar publica hoje est´┐Żo no depoimento que o historiador concedeu a Rog´┐Żrio Faria Tavares e foi publicado no livro “Contribui´┐Ż´┐Żes para a hist´┐Żria do IHGB”. Lan´┐Żado em 2018, o volume re´┐Żne entrevistas de nomes como Angelo Oswaldo, Arno Wehling, Candido Mendes de Almeida, Marcos Azambuja e Pedro Corr´┐Ża do Lago, todos s´┐Żcios do Instituto Hist´┐Żrico e Geogr´┐Żfico Brasileiro. A ´┐Żntegra dos depoimentos est´┐Ż dispon´┐Żvel, em v´┐Żdeo, para consulta na Biblioteca do IHGB em sua sede, no Rio de Janeiro.
