
Talvez � o caso iniciar por um reparo, o subt�tulo do livro, porque Fischer recua at� bem antes do texto de Roberto Schwarz que fala em ideias fora do lugar, ou seja, o primeiro cap�tulo de “Ao vencedor as batatas”, parte de um estudo a respeito de Machado de Assis, que se completa com “Um mestre na periferia do capitalismo”. E a verdade � que o trabalho de Fischer avan�a at� bem al�m do perspectivismo amer�ndio que ele toma emprestado das ideias do antrop�logo Eduardo Viveiros de Castro.
Em tempos nos quais as ideias de s�ntese ou vis�o de conjunto no campo da literatura parecem provocar arrepios, a iniciativa de Fischer parece ousada e adota postura de nadar contra a corrente, o que � vantagem, claro. O estudo tem tal abrang�ncia e cuidado na exposi��o dos termos e conceitos que se revela excelente provoca��o ao debate de ideias, algo que anda em regime de escassez nos �ltimos tempos.
Fischer lista os cl�ssicos estudos de S�lvio Romero, Jos� Ver�ssimo, Ronald de Carvalho, Nelson Werneck Sodr� e alguns outros, a que chama de modelo tradicional, antes de se deter a fundo em Antonio Candido e sua “Forma��o da literatura brasileira”, ensaio que v� a conclus�o do processo formativo da literatura brasileira com Machado de Assis e n�o d� explicitamente o passo de tornar o Modernismo paulista uma centraliza��o sem reservas, como far�o outros cr�ticos, Alfredo Bosi a puxar a fila, mas de algum modo sinaliza que � isso mesmo que acontece.
Em rela��o aos modelos tradicionais, ele apresenta algumas cr�ticas que se ressaltam, entre elas a tend�ncia a certo enciclopedismo (ou seja, certa ilus�o de completude); o mecanismo de lan�ar m�o de modelos tradicionalmente lineares, que apresentam uma “evolu��o” cronol�gica, dif�cil de se verificar na pr�tica; o uso recorrente da tradi��o francesa de interpreta��o, a que ele chama de francocentrismo; certo essencialismo que se manifesta em nacionalismo acr�tico ou em uso de aparatos importados que n�o se adaptam bem � realidade local; centraliza��o excessiva (primeiro Rio de Janeiro, depois S�o Paulo e nada mais al�m disso); isolamento, na falta de di�logo com os “hermanos” latino-americanos, por exemplo; certa tend�ncia a privilegiar apenas literatura localizada em centros urbanos (ele chama de urbanofilia); a limita��o temporal que v� no Modernismo paulista a ess�ncia, talvez a conclus�o, porque ainda insuperado, de tudo.
Modelo ‘Forma��o’
Ali�s, � nesse ponto que centra a cr�tica de Fischer a Candido: ele n�o v� literatura que n�o seja oriunda especialmente de certos centros urbanos, primeiro ponto (ou seja, ignora a literatura que Fischer chama de sistema “Sert�o”), nem percebe que as coisas n�o necessariamente evoluem de um movimento a outro, mas se manifestam �s vezes ao mesmo tempo, o que pressup�e uma ideia de unidade nacional que na pr�tica n�o se configura.
Al�m disso, existe no estudo de Candido, n�o de maneira expl�cita, mas de fato ancorada na ideia, a perspectiva de que tudo desemboca no Modernismo paulista.
O terceiro ponto � o comparatismo impreciso, que toma como modelo apenas literaturas europeias, esquecendo-se de olhar para o que se passa aqui ao lado.
Por fim, a ideia de que a forma��o se completou com a tomada de consci�ncia da ideia de nacional, iniciada com Machado e consolidada com o Modernismo.
Modelo ‘Ideias fora do lugar’
Quanto a Roberto Schwarz e seu ensaio provocativo, centro de um modelo historiogr�fico potencial, que faz “uma das mais duradouras e penetrantes f�rmulas cr�ticas produzidas no Brasil desde sempre”, as cr�ticas se referem em primeiro lugar ao fato de a tese de Schwarz s� olhar para o mundo da plantation, grafado assim mesmo, sem it�lico, porque se trata de conceito hist�rico preciso, cujo modelo � baseado em quatro fundamentos: latif�ndio, escravismo, monocultura e exporta��o.
Fischer apresenta uma s�rie de dados claros para mostrar que o modelo plantation n�o � suficiente para se entender o Brasil do per�odo (s�culo 19). Al�m disso, a tese aspira a ter validade num tempo largo, o que n�o se configura: por exemplo, com problemas novos que entraram na pauta, quest�es ind�genas, natureza, direitos da mulher e dos afrodescendentes, sistema de cotas etc. Por fim, torna-se inapropriado de se fazerem certas extrapola��es da tese para outros contextos, o que mostra certa inconveni�ncia. Al�m do qu�, a tese n�o cabe no mundo do sert�o. Ou seja, n�o o aborda nem compreende outra limita��o incontorn�vel.
Modelo ‘Fischer’
Para ajud�-lo a pensar a hist�ria da literatura nacional, Lu�s Augusto convoca a ilustre presen�a do cr�tico uruguaio �ngel Rama, com a ideia de comarca para pensar a dimens�o mais local; do cr�tico italiano Franco Moretti, para alcan�ar a dimens�o do mundo (a ideia de uma “distant reading” em oposi��o ao “close reading”, vertente te�rica oriunda do ambiente de l�ngua inglesa); do te�rico russo Mikhail Bakhtin, para se pensar em termos dial�gicos (ambos/e) em vez de dial�ticos (ou/ou); e do bi�logo e paleont�logo norte-americano Stephen Jay Gould, do qual empresta o conceito de evolu��o (que n�o � o mesmo que progresso). Nesse ponto, ele aproveita para criticar o “fetiche da inven��o”, a ideia persistente nas an�lises cr�ticas de literatura no Brasil de que s� a ruptura e a vanguarda merecem respeito e aten��o.
Surgem em seguida as ideias de Viveiros de Castro, do historiador Jorge Caldeira, do cr�tico Jos� Hildebrando Dacanal (professor de Fischer e autor do que ele considera importantes aportes � cr�tica liter�ria). Fischer chega ent�o a mencionar dois modelos para se enxergarem forma��es liter�rias no ambiente brasileiro – Plantation, de um lado; Sert�o, do outro –, para criar enfim categoria entre uma e outra (sem esquecer de mencionar o mundo amaz�nico, por exemplo, que poderia complicar ainda mais a equa��o), resultante dos choques entre os dois blocos tect�nicos. Claro que Plantation se refere ao conjunto de ideias fora do lugar, tanto quanto o sistema Sert�o se refere ao perspectivismo amer�ndio (e agora o subt�tulo volta a fazer sentido).
Solu�os, n�o feixes
O empecilho de querer amarrar conjuntos, fortalecer o sistema, ratificar a forma��o � que nada disso talvez responda com garantias ao modelo brasileiro, que caminha mais por solu�os (iniciativas individuais, muito mais do que por escolas, associa��es, grupos etc., ou qualquer influ�ncia que possam exercer) do que por feixes. Quando se junta um punhado de conceitos, algo sempre escorre por entre os dedos e escapa. O arcabou�o pode ser ousado e bonito o quanto for, parece dotado de l�gica impec�vel, organizativa, mas, de novo, algo insiste em n�o se comportar como previsto.
Talvez o problema todo seja a aus�ncia do elemento ‘leitor’ na equa��o formulada l� atr�s por Antonio Candido (existe na teoria, postulado e desejado, mas n�o necessariamente � real quando compreendido pelas categorias anal�ticas, por mais que levantamentos recentes e sistem�ticos tenham sido feitos e procurem provar que h� leitores, onde se encontram, o que leem, como fazem escolhas liter�rias e assim por diante).
Um dos percal�os de se querer fazer a cr�tica da cr�tica liter�ria � ter de lan�ar m�o de recursos de outros campos do conhecimento, como hist�ria, sociologia, ci�ncia pol�tica, vida social. Assim, o argumento se torna menos a ‘literatura’ em si do que o quadro social (ou econ�mico, ou psicol�gico, ou o que seja) em torno dela. As ferramentas da cr�tica — os modelos s�o basicamente Candido e Schwarz, mas tamb�m h� v�rias outras vertentes sob escrut�nio — sempre esbarram na contesta��o que outros campos de conhecimento podem agregar ou contestar. E as ferramentas desses campos evoluem para encontrar novas abordagens e possibilidades.
N�o que as da literatura tenham parado no tempo, n�o se trata disso, mas s�o espec�ficas e deveriam se bastar (pelo menos em princ�pio, por mais abertura que se queira enxergar nas prerrogativas de a literatura ser capaz de enxergar todas as quest�es do mundo).
Assim, quando Fischer encontra historiadores que comprovam que o Brasil n�o girou a economia apenas da perspectiva dos grandes latif�ndios, mas fez uso concomitante de variadas formas de produ��o, claro que a teoria de Schwarz a respeito do sistema plantation fica comprometido ou pelo menos � visto em sua limita��o.
A quest�o que parece ter ficado esquecida diz respeito � literatura machadiana em an�lise. Acaso o “Mem�rias p�stumas” pode ser considerado menos importante porque Machado n�o conseguiu compreender outros sistemas econ�micos — o com�rcio, por exemplo — em andamento ou n�o olhou para o campo? Claro que n�o, o que Machado pretende abordar e consegue � um sentimento de certa classe, com certas prerrogativas e privil�gios, e isso est� l� na literatura que fez (e na compreens�o de Schwarz, sobretudo no que respeita ao conceito de volubilidade do narrador e de como isso � representativo de certa elite e do modo de conduta adotada na vida p�blica nacional, al�m de ser um mecanismo inovador para o pr�prio sistema liter�rio). A impress�o que se tem, a certa altura, � que Fischer se esqueceu de olhar para a literatura, de t�o divertido que estava tratar de outros assuntos a partir de uma cr�tica poss�vel � cr�tica existente.
Cinco ideias inovadoras
A impress�o, no entanto, se dissolve com a leitura do que ele de fato tem a dizer de novo, embora se apresente de maneira um tanto contra�da. � o posf�cio, com cinco ideias breves, que mostra o quanto o pensamento de Fischer pode ser desdobrado de maneira aut�noma e com sagacidade inovadora, depois de cumprido o sobrevoo de an�lise sobre o passado das vertentes cr�ticas que mais se ressaltam.
Eis as ideias: concep��o de crista e base da onda para mostrar certos momentos coet�neos de manifesta��o liter�ria; gradiente de tens�es que supera dualismos triviais (inclusive esse mesmo dos sistemas de Plantation e Sert�o de que ele trata); abertura para incorpora��o do que ele chama de artes e of�cios da palavra (capazes de incluir no elenco literatura para crian�as, can��o, teatro, cinema, teledramaturgia, �pera, samba-enredo, hist�rias em quadrinhos, cartuns e romances gr�ficos); certa teoria das tr�s atitudes, que depois do luto e melancolia freudianos menciona tamb�m a possibilidade de euforia na leitura poss�vel em rela��o a alguns autores, numa modalidade algo fr�vola que talvez requeira mais an�lises em rela��o � literatura brasileira, porque parece ter a� uma chave qualquer que resolve parte da quest�o; por fim, uma rede de rela��es entre mat�ria (ou conte�do, v� l�) e escolha de voz narrativa, em outras palavras, como representar o andar de baixo sem o pedantismo do narrador, geralmente representante do andar de cima, ou reproduzir o discurso, em modo direto, indireto ou indireto livre e, por �ltimo, a arquitetura narrativa, ou seja, as vozes do narrador (terceira pessoa impessoal, terceira pessoa coral ou primeira pessoa).
Agora que Lu�s Augusto Fischer parece ter se desobrigado de passar em revista tantas vertentes dos estudos liter�rios e se desincumbido das explica��es acad�micas (que afinal s�o necess�rias �s pretens�es, ora cumpridas), talvez se possa esperar que nos pr�ximos livros ele v� se sentir de fato � vontade para apresentar com mais detalhes as ideias pr�prias que se mostram bem promissoras e que apareceram apenas de rasp�o no posf�cio.
*Paulo Paniago � professor de jornalismo da Universidade de Bras�lia
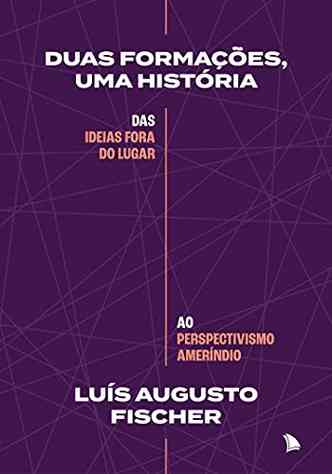
De Lu�s Augusto Fischer
Arquip�lago Editorial
400 p�ginas
R$ 79,90
