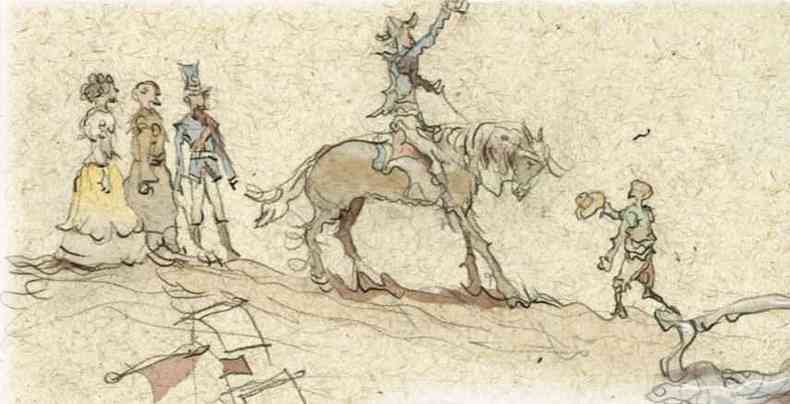
Em tr�s grandes teatros de opera��o – Bahia, Norte e Cisplatina– entre 1822 e 1823, as guerras da Independ�ncia mobilizaram mais de 60 mil soldados e causaram a morte de 3 mil a 5 mil pessoas, segundo estima o historiador H�lio Franchini Neto, especia- lista nas batalhas do per�odo, autor de “Redescobrindo a Independ�ncia, uma hist�ria de batalhas e conflitos muito al�m do 7 de Setembro” (Benvir�, 2022).
Tampouco o projeto de independ�ncia que prevaleceu foi �nico e incontest�vel naquele per�odo. Outras independ�ncias que sonharam com outras formas de Estado federalista e republicano foram igualmente gestadas nas prov�ncias deste que, desde 1815, deixara de ser col�nia e fora al�ado � condi��o de Reino do Brasil unido a Portugal e Algarves.
Tr�s principais projetos de Estado para o Brasil foram idealizados naquelas primeiras d�cadas do s�culo 19. O primeiro almejava um Imp�rio luso-brasileiro, de monarquia constitucional, com o poder centralizado em Portugal, pretendido pelas Cortes Gerais e Extraordin�rias da na��o portuguesa, que eram Cortes Constituintes ou Primeiro Parlamento Soberano, como desdobramento da Revolu��o Libe- ral do Porto (1820).
O segundo projeto mirava um imp�rio da Am�rica portuguesa, com poderes centralizados no monarca, perspectiva defendida pelo pr�ncipe regente Dom Pedro, vocalizando as aspira��es das prov�ncias do Centro-Sul. E, por fim, havia a proposta federalista, com autonomia das prov�ncias, liderada por Pernambuco.
Com a proclama��o da Independ�ncia e vencidas pelo Imp�rio do Brasil as guerras que se seguiram contra Portugal, o primeiro projeto foi sepultado. Conclu�da a ruptura emancipat�ria, foi a vez de os dois programas pol�ticos que estiveram unidos na luta contra os portugueses se confrontarem. Partiam de pressupostos antag�nicos: um vasto imp�rio centralizado da Am�rica portuguesa ou prov�ncias sobe- ranas para construir autonomamente os seus destinos? Em an�lise do per�odo, as duas perspectivas foram consideradas por Raymundo Faoro em “Os donos do Poder” (Companhia das Letras): por um lado, respaldado no ide�rio da soberania popular, re- gula��o constitucional dos poderes e pacto social, esteve o “liberalismo irado”, derrotado; por outro, o projeto vitorioso, que Faoro denominou de “liberalismo da transa��o”, defendido pela corte no Rio de Janeiro.
A proposta de federalismo pernambucano pretendia, como anota o historiador Evaldo Cabral de Mello, que, desfeita a unidade do Reino de Portugal, Brasil e Algarves, a soberania revertesse �s prov�ncias, “onde propriamente residia”. Seria, portanto, no �mbito das prov�ncias aut�nomas, que localmente seria negociado um pacto constitucional ou caso este n�o lhes conviesse, constitu�rem-se separadamente, sob o sistema que melhor lhes parecesse.
Assim se manifestara Frei Caneca, mencionado pela historiadora Helo�sa Starling no texto “Hist�ria n�o � destino”, que abre a nova edi��o de “A outra Independ�ncia – Pernambuco, 1817-1824” (Todavia, 2022), de Evaldo Cabral de Mello: “Quando aqueles sujeitos do s�tio do Ipiranga, no seu exaltado entusiasmo, aclamaram a S.M.I. (Sua Majestade Imperial), e foram imitados pelos aferventados fluminenses, Bahia podia constituir-se rep�blica; Alagoas, Pernambuco, Para�ba, Rio Grande, Cear� e Piau�, fede- ra��o; Sergipe d’El Rei, reino; Maranh�o e Par�, monarquia constitucional; Rio Grande do Sul, estado desp�tico”.
N�o � toa se justifica a Confedera��o do Equador (1824): terminadas as guerras pela Independ�ncia no teatro da Bahia e do Norte, Pernambuco, pela segunda vez, implantou uma rep�blica, em resposta � dissolu��o por Dom Pedro da Assembleia Constituinte eleita. “A historiografia da Independ�ncia tendeu a escamotear a exist�ncia do projeto federalista, enca- rando-o apenas como produto de impulsos an�r- quicos e de ambi��es personalistas, antipatri�ticas, semelhantes aos que tumultuavam pela mesma �poca a Am�rica espanhola”, sustenta Cabral de Mello.
Concebida em torno dos interesses do Rio de Janeiro, o projeto vitorioso da Independ�ncia consolidou um estado em escala da Am�rica portuguesa continental, estendendo-se do Rio da Prata ao Amazonas, centralizado e escravocrata, regido por um monarca de origem lusa e herdeiro do trono de Portugal.
“D. Pedro logrou adquirir para o Imp�rio todos os territ�rios da Am�rica portuguesa do Reino do Brasil, com base em uma s�rie de a��es: o convencimento, negocia��es, promessas, coa��o e tamb�m o uso da guerra, que � o elemento que complementa. Sem as guerras da independ�ncia, os acordos pol�ticos n�o seriam suficientes para manter a unidade e o respeito � autoridade do Rio de Janeiro”, considera o historiador H�lio Franchini Neto.
Nas palavras de Helo�sa Starling: “A Independ�ncia determinou a especificidade pol�tica do Estado que se formou no Brasil e de seu sistema de governo definido por uma monarquia constitucional representativa. Centralizador em excesso e fortemente conservador, esse projeto est� na matriz da configura��o do Estado brasileiro – manteve a escravid�o, a monarquia e a domina��o senhorial. Ao seu redor, floresceu a nossa sociedade autorit�ria, violenta, desigual e hier�rquica”.
INDENIZA��ES
Por meio do Tratado de Amizade e Alian�a, assinado em 29 de agosto de 1825 entre Dom Jo�o VI e Dom Pedro I, Portugal, derrotado nos teatros de ope- ra��o, reconheceu o Imp�rio do Brasil. A data, entretanto, ficou marcada por uma segunda conven��o secreta, firmada no mesmo dia, por meio da qual estipulava-se que o Imp�rio do Brasil pagaria a Portugal uma indeniza��o no valor de 2 milh�es de libras inglesas. Foi apenas em 1826, por ocasi�o da reabertura da Assembleia Legislativa brasileira, que tal conven��o foi cravada de duras cr�ticas.
“Como as finan�as iam mal, inclusive pelos grandes custos da mobiliza��o militar, os recursos tiveram que ser emprestados de bancos ingleses. Em muitos livros de hist�ria, essa indeniza��o aparece como a origem da d�vida externa brasileira. Criou-se, ent�o, uma imagem de que o segredo se destinava a esconder uma negociata contr�ria aos interesses do Brasil, ao que se somou ponto importante da simbologia para a �poca, o acordo pelo qual D. Jo�o VI assumia o Imp�rio e transferia o poder ‘voluntariamente’ a Dom Pedro”, anota H�lio Franchini Neto, que tende a relativizar tal interpreta��o. Para outros historiadores, tratou-se de um neg�cio de filho para pai, al�m de um acinte aos combatentes, mortos e feridos que consolidaram a Independ�ncia nos campos de batalha da Bahia, Piau�, Maranh�o e Cisplatina.
Duzentos anos depois, a pesquisa historiogr�fica sinaliza para um outro processo emancipat�rio: de muitas mortes, guerras, escravid�o, pelourinhos, quilombos e insurrei��es, resist�ncia ind�gena ao genoc�dio, sangue e l�grimas, que passaram ao largo das margens “pl�cidas” do Ipiranga. Tal foi a natureza de um processo complexo, desenhado em artificial exuber�ncia heroica e nacionalista, em �leo sobre tela, por Pedro Am�rico, em 1888, sob o t�tulo “Independ�ncia ou morte”. Assim como a origem da fam�lia real portuguesa, a representa��o daquele “brado” tamb�m � europeia e se inspira na tela “1807, Friedland”, de Ernest Meissonier, que retratou Napole�o Bonaparte ap�s a vit�ria dos franceses sobre os russos. O mesmo Napole�o que, na passagem de 1807 e 1808, avan�ando sobre a Europa com o ideal antiabsolutista, amea�ara lusos com a invas�o, empurrara a fam�lia real para o Rio de Janeiro, provocando transforma��es com influ�ncia fundamental em todo o processo que desembocaria na Independ�ncia do Brasil.
