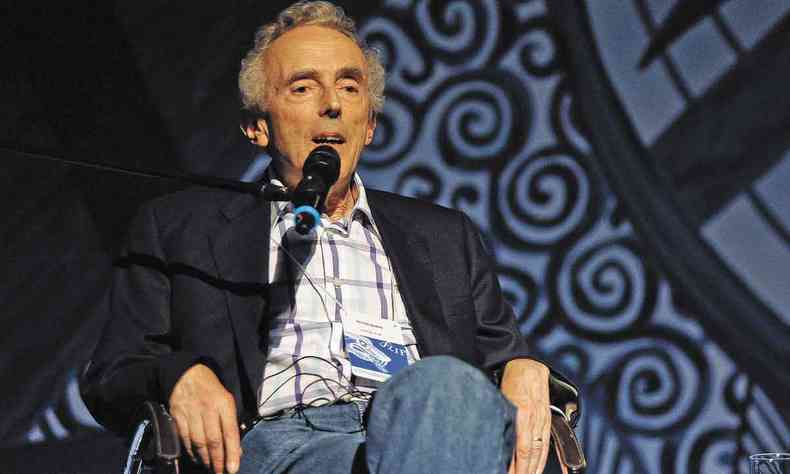
Se, por um lado, cada per�odo hist�rico se percebe mais conhecedor do que o anterior; por outro, o foco na ignor�ncia tamb�m se apresenta sob prismas opostos. O economista ingl�s William Beveridge (1879-1963), um dos precursores do estado de bem-estar social moderno, apontou- a como um dos gigantes a ser derrotado. Em dire��o contr�ria, h� quem defenda ser a ignor�ncia, de diferentes modos, uma b�n��o. O fil�sofo John Rawls (1921-2002) pregou o “v�u da ignor�ncia”, - uma cegueira � ra�a, � classe, � na��o ou ao g�nero – para que as pessoas recebam exatamente o mesmo tratamento; pesquisadores elogiaram a “ignor�ncia criativa”, considerando que muito conhecimento pode inibir a inova��o em todos os dom�nios.
No longo debate civilizacional em defesa ou em ataque � ignor�ncia, h� uma quest�o conceitual: de que perspectiva e de onde se parte para definir a ignor�ncia. Seria uma “b�n��o” – “ignorance is bliss”, como cunhou o poeta ingl�s Thomas Gray (1716-71), ou um gigante a ser denunciado e derrotado?
Em “Ignor�ncia: uma hist�ria global” (“Ignorance: a global history”), Peter Burke, professor em�rito de Hist�ria Cultural na Universidade de Cambridge, retrocede nos s�culos da hist�ria para reconstituir como pessoas e sociedades lidaram com a ignor�ncia. Traduzida por Rodrigo Seabra, a edi��o brasileira chega �s livrarias em maio pela Vest�gio.
Autor de dezenas de obras, traduzidas para mais de 30 idiomas, o historiador de 85 anos � conhecido no Brasil por livros como “O que � hist�ria do conhecimento?” (Unesp, 2016), “O pol�mata: uma hist�ria cultural de Leonardo da Vinci a Susan Sontag” (Unesp, 2020) e “Cultura popular na Idade Moderna” (Companhia das Letras, 2010).
Leia: Pesquisa recupera participa��o de Hip�lita Jacinta na Conjura��o Mineira
Em nossa “era da informa��o” – de um mundo hiperconectado, em que diferentemente do passado, longe da escassez, o problema � o excesso – a enxurrada – de informa��es que se despeja sem filtros sobre os cidad�os –, Burke se pergunta sobre o conhecimento que se perde ao longo dos s�culos: estamos bem cientes de que sabemos muita coisa que as gera��es anteriores n�o sabiam, mas estamos bem menos cientes das coisas que eles j� sabiam e que hoje n�o mais sabemos. Recupera como os antigos debateram o conhecimento. Viaja � Gr�cia, assinalando que S�crates
(470 a.C.-399 a.C.), em cr�tica �quele que “pensa que sabe algo, quando n�o sabe”, afirmava nada saber, exceto, que sua ignor�ncia era um fato. Em contraposi��o ao estudo sobre como adquirimos conhecimento e sabemos se ele � confi�vel, S�crates se preocupava com o conceito oposto: como e por que continuamos ignorantes. Da China Antiga, a defini��o de Conf�cio (552 a.C. - 489 a.C.) sobre o conhecimento segue atual: “Se devo dizer-lhes o que � conhecimento: o que sabemos, saber que o sabemos. Aquilo que n�o sabemos, saber que n�o o sabemos. Eis o verdadeiro saber”.
Leia: Livro condensa pesquisa sobre produ��o art�stica nacional nos anos 1960/70
Ao definir o conhecimento, assim como Conf�cio, Burke distingue os “desconhecidos conhecidos” e os “desconhecidos desconhecidos”. Na primeira categoria, est� tudo aquilo que j� se sabe, mas que ainda n�o � conhecido, mas um dia ser�, a exemplo da estrutura do DNA antes de sua descoberta em 1953; na segunda est� aquilo de que a humanidade ainda nem faz ideia que exista, tal como ocorreu na Idade M�dia, quando Crist�v�o Colombo alcan�ou a Am�rica, quando buscava encontrar as �ndias.
Peter Burke parte, assim, da defini��o tradicional de ignor�ncia: a aus�ncia ou priva��o de conhecimento, que � frequentemente invis�vel para o indiv�duo ou grupo ignorante, uma forma de cegueira que tem consequ�ncias graves para a humanidade. N�o � toa o autor dedica o livro aos professores que tentam remediar a ignor�ncia de seus alunos, marcando a distin��o entre “n�o saber”; “n�o desejar saber”; e n�o querer que outras pessoas saibam algo.
A difus�o da ignor�ncia
Se no passado uma das principais raz�es para a ignor�ncia dos indiv�duos era o fato de que pouca informa��o circulava na sociedade – o acesso aos manuscritos e ao conhecimento era restrito –, paradoxalmente, a sobrecarga de informa��o se tornou um problema contempor�neo, pois caminha ao lado da difus�o da ignor�ncia.
Leia: Com 'Linea nigra', editora Moinhos inicia aposta na n�o-fic��o
“Os indiv�duos experimentam um dil�vio de informa��es e muitas vezes n�o conseguem selecionar o que querem ou precisam, uma condi��o que tamb�m � conhecida como ‘falha de filtro’. Como consequ�ncia disso, nossa assim chamada era da informa��o permite a difus�o da ignor�ncia tanto quanto a difus�o do conhecimento”, afirma Burke. Recentemente, o enfrentamento global da epidemia da Covid-19 escancarou a profus�o de falso conhecimento sobre a doen�a, com consequ�ncias grav�ssimas, inclusive mortes que poderiam ter sido evitadas.
� no contexto dessas preocupa��es do s�culo 21 que atualmente o estudo acad�mico da ignor�ncia � impulsionado, afirma Burke, destacando, em particular, as demonstra��es de ignor�ncia de ex-presidentes da Rep�blica, como Donald Trump, nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro, no Brasil. Contra a dissemina��o das not�cias falsas, a receita de Peter Burke � a educa��o: alfabetizar as crian�as, j� no ensino fundamental, em rela��o � forma de interagir, identificar e lidar com a difus�o da ignor�ncia, que atende a interesses nunca revelados.
Leia: Natalia Ginzburg radicaliza t�cnica no romance 'A cidade e a casa'
Como definir a ignor�ncia?
Sigo a defini��o tradicional de ignor�ncia como aus�ncia de conhecimento, diferindo assim de alguns estudiosos recentes que falam em ‘produ��o’ da ignor�ncia. Como a aus�ncia n�o pode ser produzida, prefiro falar em “manter” as pessoas na ignor�ncia ou em produzir d�vida ou confus�o (por exemplo, por t�cnicas de “desinforma��o”). Eu distingo entre simplesmente n�o saber; n�o desejar saber; e n�o querer que outras pessoas saibam algo.
Qual � a import�ncia em escrever sobre a hist�ria da ignor�ncia no s�culo 21, denominado “a era da informa��o”?
Embora negligenciada, a ignor�ncia � sempre uma tem�tica importante, mas, por uma variedade de raz�es, recentemente se tornou t�pico ainda mais destacado. Uma delas � a �bvia ignor�ncia de recentes presidentes da Rep�blica, como George W. Bush, Donald Trump e Jair Bolsonaro. Uma outra raz�o � a dissemina��o das chamadas “fake news” pelas m�dias digitais, frequentemente acreditadas porque em geral o p�blico n�o sabe (ou n�o se importa) com quem est� enviando a mensagem e com quais interesses. Da� a import�ncia em educar as pessoas para que sejam mais cr�ticas e se tornem “alfabetizadas” na identifica��o das fake news, processo este que deve se iniciar no ensino fundamental.
Somos ignorantes por que o conhecimento “definitivo” nunca ser� alcan�ado ou somos ignorantes quando negamos o conhecimento j� produzido?
Somos todos ignorantes em rela��o a muitas coisas: individualmente cada um sabe algo que outros n�o sabem; e coletivamente, cada nova descoberta, em medicina por exemplo, revela o que antes n�o sab�amos (embora n�o soub�ssemos que n�o sab�amos). A nega��o � uma outra quest�o. Suponho que existam pessoas que simplesmente acreditem que o Holocausto nunca tenha ocorrido - e nesse sentido, se assim for, eu as chamaria de ignorantes ou de auto-iludidas. Mas outros, neonazistas, por exemplo, provavelmente sabem a verdade e escolhem neg�-la por seus pr�prios interesses.
Em sua opini�o, nesta nova era informacional, a falta de media��o na circula��o da informa��o, papel anteriormente preenchido pelas plataformas tradicionais de m�dia, tornou-se aliada da nega��o do conhecimento?
Neste caso, prefiro falar da circula��o do falso conhecimento. Isso costumava ocorrer principalmente por transmiss�o oral, ou seja, rumores e fofocas, que viajavam mais r�pido do que se poderia esperar em uma �poca anterior aos trens, aos carros, aos avi�es, ao r�dio, � televis�o, etc. Mas alguns falsos conhecimentos tamb�m circularam na imprensa, no r�dio e na televis�o, mas como fica impl�cito em sua pergunta, embora nem sempre haja tempo para a verifica��o, houve e h� porteiros em todos esses meios, checando a confiabilidade das informa��es que est�o prestes a circular.
Tamb�m, �s vezes, os donos de sites de m�dia preferem uma hist�ria que v� vender a uma hist�ria menos dram�tica, mas verdadeira. Nesta era das m�dias digitais, como voc� menciona, retornamos a algo semelhante � velha situa��o em que receb�amos informa��o “diretamente”, em outras palavras, sem saber a origem, como no caso dos rumores.
L�deres populistas no Brasil e de todo o mundo propagam a desinforma��o por meio das m�dias digitais. Na sua opini�o, para proteger a popula��o da desinforma��o, que tipo de controle devem as sociedades exercer sem o risco de ferir a liberdade de express�o?
Este, � claro, � um aspecto delicado da tem�tica: alcan�ar um equil�brio entre a liberdade de express�o, por um lado e, por outro, a prote��o da sociedade contra o “discurso de �dio” e, como voc� menciona, a desinforma��o (para a qual o rem�dio, como sugeri, � a educar as pessoas para serem cr�ticas em rela��o �s mensagens que leem ou ouvem).
N�o acredito que seja poss�vel definir um limite v�lido para todas as situa��es – crian�as precisam de mais prote��o, por exemplo, enquanto nas universidades seja o caso para maior liberdade de express�o.
Os legisladores precisam estar conscientes em rela��o �s diferen�as entre as situa��es e a elas adaptar as leis. Mas a agress�o verbal, que frequentemente leva � agress�o f�sica, precisa ser controlada. Felizmente, o discurso agressivo ou a escrita agressiva pode ser facilmente e rapidamente identificado, enquanto provar que uma not�cia � falsa pode levar horas de pesquisa.
“Ignor�ncia: uma hist�ria global”
- Peter Burke
- Tradu��o de Rodrigo Seabra
- Editora Vest�gio
- 352 p�ginas
- R$ 74,90
